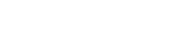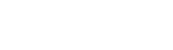A capacidade contributiva é compreendida como a capacidade econômica que o contribuinte possui de suportar o encargo tributário, o que pressupõe o vínculo jurídico entre a Fazenda Pública e o contribuinte. Cabe àquela promover a arrecadação estatal de forma proporcional aos limites atrelados à capacidade contributiva deste, e, consequentemente, é gerada a obrigação jurídica com a finalidade arrecadatória (KIRCHNER, 2011, p.316-317).
Como aduz Kirchner (2011, p.317), a capacidade econômica está intrinsicamente ligada à capacidade contributiva, sendo entendida como a externalização do potencial econômico do contribuinte, no que concerne às suas receitas. Essa capacidade visa apontar o quanto esse indivíduo possui em adquirir riqueza por intermédio de seus rendimentos, de seus meios de consumo ou de suas propriedades. Entretanto, tal conceito não fica adstrito ao poder tributante.
Ademais, é possível aferir a ausência de legitimidade que determinados impostos possuem ao desconsiderar a capacidade em suportar a carga tributária (KIRCHNER, 2011, p.313). Portanto, a inércia legislativa ao não observar o ônus que o contribuinte é capaz de suportar é prejudicial à aplicação de um tratamento isonômico.
Conforme Mazza (2023, p.88), no que tange a tributação, a apreciação do principal paradigma de isonomia – “tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais” – está associada à tributação proporcional de cada contribuinte à medida de suas riquezas. O consectário lógico desse feito é considerado um desdobramento do princípio da isonomia.
O ponto nevrálgico da capacidade contributiva está associado ao princípio da isonomia, tendo em vista que, ao instituir os tributos e analisar o poder econômico do contribuinte, promove-se a justiça distributiva. Desse modo, ao cobrar da mesma forma tanto os ricos quanto os mais pobres, tem-se isonomia formal; já quando a orientação da cobrança é feita a partir do poder econômico de cada classe, tem-se a isonomia material.
Assim é importante destacar que desde a criação das constituições mais antigas até as mais recentes, compreende-se o princípio da isonomia apenas em seu aspecto formal, que seria a igualdade frente ao que está redigido em lei, sendo desprezada a parte que promove a igualdade material (ações positivas com de fim de proporcionar desigual aos desiguais), de forma a viabilizar a consecução das diretrizes programáticas inseridas nas legislações vigentes (D’OLIVEIRA, 2010, p.22).
Segundo D’Oliveira (2010, p. 22-24), a intervenção do ente estatal, com o fim de atenuar as diferenças, por meio de legislações e de ações concretas, é um instrumento para satisfazer a integridade do princípio. Assim, a isonomia material possui fim programático, ou seja, algo almejado nas relações entre Estado e sociedade. Para que todos os atores possam ter seus interesses igualmente válidos, faz-se necessária a implantação da isonomia material em todas as relações, sejam entre Estado e particular ou entre particulares.
Na relação jurídica promovida entre Estado e contribuinte, a técnica utilizada no Direito Tributário (BRASIL,1966) para promover ações positivas de isonomia material é a chamada progressividade fiscal. Essa técnica consiste na utilização de alíquotas progressivas, de modo que a riqueza auferida pelo contribuinte seja graduada, atribuindo-se a cobrança de forma proporcional às suas posses. Em outras palavras, a cobrança do imposto é progressiva: quanto mais se recebe, mais se contribui (MAZZA, 2023, p.88).
Seguindo essa linha de raciocínio, a estrita observância da isonomia formal não é capaz de, por si só, proporcionar tratamento igualitário ao coletivo, sendo necessária a promoção de ações que concretizem a aplicação da lei em enfrentamento às principais mazelas sociais. Contudo, é importante ressaltar que o ente público deve proporcionar a existência de um mínimo existencial, de modo que o indivíduo possa gozar de uma vida digna.
Nessa esteira, o Estado possui a incumbência de subsidiar meios para a promoção mínima dos bens (consumíveis e/ou não) necessários à sobrevivência digna do cidadão. A capacidade contributiva tem o fim de proporcionar esse mínimo existencial, de forma que a contribuição proporcional de cada contribuinte seja utilizada como meio para mitigar as desigualdades sociais (KIRCHNER, 2011, p.314).
Como alude Kirchner (2011, p.315), a fração que deve ser despendida pelo contribuinte frente aos gastos públicos deve ser imputada apenas depois do exaurimento de suas necessidades pessoais e familiares. Destarte, é possível inferir que o ideário de mínimo existencial está intrinsecamente ligado à capacidade contributiva, na proporção em que os tributos alcancem somente a porção compatível com a sua condição, respeitado o mínimo necessário para a subsistência do indivíduo.
Diante de todo exposto, a capacidade contributiva dispõe, como preponderância, a limitação que o Poder Constituinte Originário possui quanto ao alcance para tributar. Dessa maneira, é possível fazer a verificação de que o mínimo existencial se configura como limitação inferior da capacidade contributiva, constituindo-se como meio de conter o alcance do poder de tributar (VALLE; ALVEIRO, 2017, p.117-118). Depreende-se que a satisfação das necessidades básicas do contribuinte é uma atividade-meio para que se possa tratar os desiguais na medida de sua desigualdade (KIRCHNER, 2011, p.313).
Ao aplicar a igualdade material sem observar as desigualdades imputadas por lei formal, incorre-se em uma aplicação simplista de um texto seco e insensível. Portanto, preservar o mínimo existencial de cada contribuinte e, somente após essa garantia, aferir o cumprimento do princípio da capacidade contributiva proporcionará uma aplicação mais condizente com o atual Estado Democrático de Direito e, consequentemente, com a justiça fiscal, mitigando as mazelas sociais geradas por aplicação meramente formal da lei.