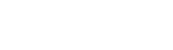1 MARCO INTRODUTÓRIO
Os direitos e as garantias fundamentais elencados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 servem de base para todo o ordenamento jurídico brasileiro. A nova ordem constitucional estabeleceu, de forma clara e detalhada, quais são as garantias inerentes ao cidadão, buscando-se, assim, dar maior aplicabilidade a tais direitos, garantindo a sua eficácia constitucional.
Como se vê, tais garantias se encontram presentes tanto no direito objetivo ou material, quanto no direito subjetivo ou formal. Nesses moldes, é imprescindível que possuam eficácia plena. Está garantida pela aplicabilidade imediata prevista no Art. 5º, §1º da Constituição Federal.
Entre tais garantias, encontra-se o direito de ampla defesa, servindo como base essencial à processualística penal. Por seu caráter de essencialidade, pode-se dizer que o direito de ampla defesa engloba outra série de direitos e garantias fundamentais, constitucionalmente, estabelecidas, dentre as quais, carece incluir o direito que o acusado tem de permanecer em silêncio.
A observância do direito de permanecer em silêncio possui aplicabilidade imediata e eficácia plena, segundo o texto normativo do Art. 5º, §1º, da Constituição Federal.
Observa-se, também, um fenômeno comum no processo penal, seja no seu nascedouro com o inquérito policial, seja nas fases finais de tal processo, especialmente, no rito especial do Tribunal do Júri, o desrespeito à aplicação e observância do direito que o acusado tem de permanecer em silêncio pelas autoridades policiais, membros do Ministério Público, e, principalmente, os membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, para os crimes dolosos contra a vida.
Neste espeque, repousa a necessidade insistente de se fazer compreender a importância da aplicabilidade do direito constitucional que o acusado tem de permanecer em silêncio, sendo a sua não observância um prejuízo imensurável ao direito de ampla defesa, prejudicando, por conta disso, toda a processualística penal.
Como se vê, uma não observância ao direito de permanecer em silêncio, seja no viés administrativo, por meio do inquérito policial, em que a autoridade, através do seu relatório, indique possível culpabilidade ao indiciado que utiliza o direito de permanecer em silêncio, seja no viés judicial, tanto na propositura da ação penal pelo membro do Ministério Público, quanto no veredicto do Conselho de Sentença pelos membros do Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida.
Nessa esteira, a não observância desse direito consagrado constitucionalmente interfere na eficácia do mesmo, o que, por si, infringe as normas constitucionais, em especial, a norma elencada no Art. 5º, LXIII, que explicita o direito de permanecer calado ao indiciado/acusado, bem como a norma constitucional elencada no §1º do Art. 5º, que explicita ter os direitos fundamentais aplicabilidade imediata. Desse modo, extrai-se o problema principal da presente pesquisa, o que implica por objetivos explicar que a não observância ao direito de permanecer em silêncio leva ao prejuízo no direito de ampla defesa do acusado. Além de explicar como o exercício do direito de permanecer em silêncio incide na formação do juízo de valor dos jurados, que são leigos, selecionados ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2 O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO
2.1 O Direito à Ampla Defesa
O princípio da não culpabilidade, hoje assente na maioria dos ordenamentos jurídicos, seja na Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Constituição Brasileira de 1988, no seu art. 5º, inciso LVII, garante que nenhum homem pode ser considerado culpado antes da sentença penal condenatória transitada em julgado. Por essa via, tem-se de modo a exemplificar não aceitável a tortura como forma de obter a confissão do acusado. Muito mais, exigir deste à confissão de quem sejam seus cúmplices. Há de se imaginar que se a confissão é arrancada do acusado por meios espúrios, imagine do seu cúmplice. Por uma premissa muito lógica, aquele que a si próprio se acusa com maior facilidade acusará outrem.
A tortura como forma de expiação e que tantas vezes em tempos medievos o Estado se valia, para punir aqueles que de alguma forma delinquiam. Tome-se a exemplo uma das maiores cenas de tortura praticadas à época, a morte por crucificação do Nazareno.
É uma síntese do que relata a história, fora um homem simples, nascido de família igualmente simples, sem adentrar em convicções íntimo-religiosas, porém, apenas, e tão somente, no relato da passagem do personagem, diante de outros que se tenha ouvido, é, inequivocamente, o mais completo relato de um pacificador.
Por representar uma ameaça ao Estado Israelita, sob o domínio do Império Romano, pois este se sentia incomodado com a aparição de um líder popular, cuidaram de salvaguardar suas posições diante do povo israelita. O que implicou de forma exaustiva a exigência de ver julgado um condenado sem culpa.
Tome-se por temerário ainda os governos romanos que se sucederam. Em que uma voz se levantava pela eloquência de seu discurso, está-se a referir a Marco Túlio Cícero, o maior orador do Senado Romano no séc. I.D.C. ao conclamar quão imperativo o direito de cada indivíduo se defender.
Não se pode precisar exatamente quando começa a despertar no ser humano os direitos e as garantias, forte na dignidade do ser humano. É sabido, sempre houve uma força antagônica entre Estado e indivíduo.
Essa força vai prosperar por cerca de dezoito séculos, porquanto só a partir do “Século das Luzes”, é que, por primeira vez, com a queda do Ancien Régime, e o surgimento do chamado “Estado Novo”, vai estabelecer como norma fundante o princípio da dignidade da pessoa humana.
Não se pode precisar o seu surgimento efetivamente, havendo quem sustente ser de todo impossível precisar o seu aparecimento. De todo modo, é de elementar importância, e, neste particular, não se permite exaurir a necessidade premente de insurgência contra o Estado tirano. Até porque essas insurreições advindas do inconformismo, dos maus tratos, impulsionaram o homem a lutar contra esse poder absoluto. Aos que afirmam inclusive que ditas garantias vêm, exatamente, no momento e à medida dos horrores praticados pelas inquisições.
Nesse trilhar, se faz imperativo estabelecer como forma de ilustrar a voracidade e a ferocidade dos detentores do poder, aqui se eleja de forma dicótoma Estado e clero.
Tome-se como referencial desses horrores, de modo a não pairar o menor resquício de dúvida, o relato trazido por Michel Foucault:
[Damiens fora condenado a 02 de março de 1757], a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris [a onde devia ser] levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; [em seguida], na dita carroça, na praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mãe direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpos consumidos ao fogo, reduzidos as cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento (2005, p. 9).
Note-se a título de conferência que o suplício de Damiens retrata de forma coesa o modo de agir do Estado contra o súdito. Não há de se falar, nem tampouco prever se houvesse uma comiseração por parte do ente estatalista em relação ao indivíduo. Nada mais horripilante, nada mais afrontador, nada mais desumano do que o que fora vítima o personagem de Foucault.
Nessa esteira, residirá uma fosforescência, de modo a clarear, os Estados Constitucionais hão de diluir tamanhas atrocidades, dantes reinantes em processos arrefecidos de brutalidade e ignorância. É inconcebível imaginar um acusado despido das garantias inerentes a um Devido Processo Legal, hospiciador de tantas e quantas garantias possam adicionar neste contexto de “Ampla Defesa”.
Ademais, é de salutar importância que essas garantias estejam seguindo o processo, de modo a não permitir que nenhuma delas se perca sob pena de açoitar a nulidade absoluta. É dever de cada operador de Direito, seja na tríade: Estado Acusação, Estado Punitivo e Estado Liberdade.
O Estado ainda que na persecução de atribuir ditas garantias, só estará, verdadeiramente, efetivado quando consagrar, sem subterfúgios, sem vertentes ou sinuosidades não se afastar das garantias dispensadas ao indivíduo. Nesse caminhar, cabe um cobrar incessante ao que há de mais salutar de cuja inserção se ver esparramar no texto constitucional brasileiro e, especialmente, no rosário do art. 5º.
A amputação de ditas garantias remete a um estado de estupefação em razão de sequer imaginar como uma sociedade sobrevivera nos moldes do Estado absoluto e de cujos chefes não menos diferenciados porquanto déspotas.
No que se refere ao suplício de Damiens, não adentrando nas questões meramente ideológicas e religiosas, como a exemplo do que ocorrera como filho do carpinteiro em Jerusalém, que fora em diferentes épocas, contudo, espancado de forma cruel e selvagem, tendo sua pena capital de morte por crucificação.
Se acaso fosse dado estabelecer uma relação temporal entre um personagem e outro, decerto vai conduzir ao mesmo desembocadouro, ou seja, entre quase dezessete séculos, pasmem!, o homem enquanto ser possuidor de sentimento de respeito e solidariedade em relação ao seu semelhante, obviamente não evoluiu. Ao contrário, estagnou.
Isso demonstra obviamente que os Estados totalitários, ao usarem da força e da selvageria de como punir o indivíduo, quanto mais cruel fosse imposta a pena e quanto mais escancarada ao público, pensava exercer um maior controle social. Esse controle social era uma maneira vil de sustentar as chamadas classes abastadas, por conseguinte, as minorias, em detrimento da humilhação e da segregação, como muro de separação em que a primeira estaria sempre gozando das benesses do poder, enquanto que a segunda relegada à própria sorte, só não sendo dizimada, por representar sustentáculo a essas minorias. Ou seja, vivendo em condição escrava como reles objeto de uma sociedade minoritária e donatária. Vale citar o que ensina Coelho, ao elencar a liberdade individual como somente passível de segregação em último caso, respeitando, sobretudo, outras garantias fundamentais.
Em face do Direito Penal, o Direito à liberdade e o princípio da liberdade, portanto, assumem um relevo especial, posto que a esfera de intervenção do Estado nesta liberdade deve ser constantemente cotejada com outros valores, tendo como instrumento hermenêutico de orientação o princípio da dignidade da pessoa humana, para se coibir a relativização da liberdade que violente a estrutura do Estado Democrático de Direito. Isto significa que a violação da liberdade somente será legítima, em Direito Penal, quando for compatível com a manutenção de outros princípios também fundamentais, aos quais se discorre ao longo deste capítulo. A intervenção na liberdade é possível de ser realizada, não se tem dúvida, mas é imperiosa a necessidade de respeito aos valores fundamentais, sob o risco de utilização do instrumento formal mais violento que o Estado possui – o Direito Penal – para solapar os valores da Democracia e, por consequência, da Constituição. (2009, p. 78)
Daí a necessidade de se perseguir o Direito de Liberdade, direito este, repetido e insistido tantas vezes, dada à sua importância e tamanho o seu relevo.
No Processo Penal, posto este diferente dos demais, os cuidados devem ser polidos, de modo a não descuidar um instante sequer, como marco a não permitir o saltitar, o esquecer, porquanto esse estado de vigília torna-se importante como forma de ver um justo processo. No Direito Processual Penal, em que vida e liberdade estão presentes, sua operacionalização deva ser inconfundível, e tanto é que nas ciências jurídicas, o Processo Penal, deva ser tão lúcido, em que ele apenas aconteça esgotadas as possibilidades de resolução por outros mecanismos jurídicos.
O que isso quer dizer, é que o processo tolhedor da liberdade somente se configurará como um estado de extrema unção a um moribundo. Assim também para retirada da liberdade do indivíduo, a convicção do julgador neste sentido deva estar tão límpida feito o reluzir das estrelas no firmamento. Claro feito à luz do dia. Essa foi uma das grandes preocupações que acompanhou o imortal jurista Nelson Hungria, como destacou Luciano Felício Fuck (2012, p. 83). Por derradeiro, deva ser a ultimíssima ratio da extrema ratio. Por este mirar e além dele, grandes homens pensaram o Direito Penal. Em que centro reside no próprio homem. Por maior que seja, por mais abominável que seja o delito cometido, ainda assim, a ordem jurídica constituída não pode abdicar de respeitar as garantias ensejadas no ordenamento maior de um Estado Constitucional, Democrático e Pleno de Direito. Nesse particular, o indivíduo fora, independentemente de sua condição social e cultural, premiado na redoma impenetrável dessas garantias constitucionais. Repita-se o Devido Processo Legal. A par disso, não é dado olvidar de que a Carta Política de 1988 enseja no seu art. 1º, inciso III, “A Dignidade da Pessoa Humana”. Esta, portanto, eleita como cláusula geral de Direitos da Personalidade, pois se faz imprescindível para o ser humano justamente por esta condição, a de homem.
Não se pode, efetivamente, em tempo algum, conceber a negativa, de que o Direito Penal é o mais importante de todos os ramos do ordenamento jurídico. Depois obviamente do Direito Constitucional, que, na verdade, não pode ser encarado como um ramo do Direito, mas sim como um tronco do ordenamento jurídico, do qual todos os ramos vão encontrar suas fontes de vida e de validade.
É nesse contexto que há de eleger-se, portanto, uma Constituição como o ordenamento maior, um todo unitário de cuja Lei é imperante em todo o ordenamento jurídico, dada a sua supremacia. É exatamente nos princípios fundamentais de dignidade da pessoa humana, que não cabe sequer interpretação diversa, senão conceituar que os Direitos Fundamentais por sua força, possuem aplicação imediata e eficácia plena.
Se o Direito Penal possui essa força também e atraiu para si uma conformidade com o texto Constitucional, não se pode pensar diferente, nem mesmo pelo Estado na sua condição de Estado Punitivo, desarredar-se dessa convicção, aqui, não podendo chamar de ideologia, mas sim do respeito à consagração do Estado Democrático e Pleno de Direito. Isso porque um Estado que se quer Constitucional deva edificar na sua nomenclatura formal e material, o conteúdo mínimo das organizações fundamentais de um Estado.
Nessas pegadas, ainda que o insistir humano vacile tantas vezes, entretanto, deve refletir no que emana do texto constitucional, sobretudo, na inscrição em ferro e fogo de suas clausulas pétreas. Nesse contexto, as cláusulas insculpem os Direitos Fundamentais.
Nesses moldes, deve ser conduzido o Direito Penal, não apenas como mero objeto material, mas sim, elegendo o indivíduo como objeto central dessa dinâmica.
O Direito Penal, sem dúvida alguma, é aquele que mais carece da atenção do Estado, uma vez que, por meio de suas sanções, se coloca em jogo o bem jurídico mais relevante após a vida, vale dizer, a liberdade.
A partir da veiculação por películas imaginárias das atrocidades praticadas pelo Estado contra a sociedade. Neste particular, é imprescindível conceituar a sociedade como a parte maior e restante de um povo, que é senão a sua parte miserável, porquanto a outra parte minoritária se confundia ao próprio Estado.
Por via disso, não se deve olvidar da credulidade de quão obscuro era o tratamento dispensado ao restante. Nesse aspecto, se faz imperativo coletar dados de valores que vão, certamente, desembocar na foz da consciência humana, eleja-se, portanto, assim, os chamados “iluminados”, a configurar John Locke, o percussor do iluminismo, a partir disso, encontrar Jean-Jacques Rousseau, quando institui “Do Contrato Social”.
A partir do ideário desses filósofos, o mundo vai começar a pensar outra forma de poder que não a existente. Daí, a humanidade vai conhecer um dos maiores marcos históricos que é a Revolução Francesa. A queda da Bastilha vai servir de parcel a iluminar o farol do obscurantismo da idade média. Com a Revolução Francesa, vai surgir o chamado “Estado Novo”. Vai eclodir por toda a Europa um movimento de libertação tamanho, incapaz de ser contido por aqueles que ostentavam o antigo regime.
Justamente nas ideias de Rousseau é que vai surgir um novo pensar, uma forma de socializar povo e governo. Para o autor, era inadiável este contrato social. Isso porque, se fazia emergir uma nova concepção ideológica, não podendo se desentrelaçar porquanto, em razão da revolução de ideários traçados no trinômio que culminou com a Revolução, sob a égide da: liberté, egalité, fraternité.
Nessa perspectiva, não se podia conceber o continuísmo de uma vida em sociedade, senão impulsionada por esses princípios, tão bem definidos pelo povo francês, para consagrar em definitivo a eleição desses valores como direitos fundamentais de primeira geração.
É nesse prisma e para além dele que se vai inserir o direito, com base nesses pilares, a que cada indivíduo tem de ver respeitadas suas garantias. Daí vai nascer, efetivamente, o real direito de exercer a amplíssima defesa para o que se quer conceber como temática da relação de Estado e sociedade, regulado pelo Direito, se fazer assente o direito ao silêncio. Como destaque, basta analisar a inserção do inciso LXIII do Art. 5º da Constituição Federal.
A par da República Penal, decerto, a maneira mais aviltante, o modo mais voraz com que o Estado procura punir aquele que, por infortúnio, comete o ilícito penal, não pode estar além do que previne a Carta Magna, ou seja, a sua Lei Maior.
Eis que o Brasil possui um Código Penal de 1940, com algumas alterações, bem verdade, longe de alcançar o postulado principiológico da Constituição da República. É nesse curso que Marmelstein preleciona:
Finalmente, a necessidade de o Estado punir com ética. Isso passa, inicialmente, pela dicção prévia e precisa dos crimes, de modo a possibilitar aos cidadãos uma certeza segura daquilo que é proibido pela legislação penal (principio da reserva legal).
O ato de tipificação penal impõe ao Estado o dever de identificar com clareza e precisão, os elementos definidores da conduta delituosa. As normas de incriminação que desatendem a essa exigência de objetividade – além de descumprirem a função de garantia que é inerente ao tipo penal – qualificam-se como expressão de um discurso normativo absolutamente incompatível com a essência mesma dos princípios que estruturam o sistema penal no contexto dos regimes democráticos. (2009, p. 167-169)
Nessa dimensão, é de tal modo importante e primordial, buscar trilhar sempre pela via que conduza a conservação dessas garantias.
No que concerne ao direito que possui o acusado de permanecer em silêncio, ele não só deve ser albergado como, aliás, albergado está o seu princípio constante do rico elenco do Art. 5º, como fora citado. Como fator primeiro, há de se notar que a Lei Maior, além das garantias que fez redomar no rosário do Art. 5º, esparramou em torno de todo o texto Constitucional, direitos e garantias inesgotáveis. E para garantir o respeito amplo desses direitos, arrematou, decotou, diluiu um dos Poderes, no que concerne à aplicabilidade da lei penal e seu julgamento, a uma das esferas que compõem a República, que é o Poder Judiciário. Quando conferiu como status de garantia o inciso IX do Art. 93 da CRFB/88, no postulado de que toda e qualquer decisão judicial deva estar de tal ordem fundamentada, sob pena de nulidade absoluta.
A estranheza para o caso em comento reside na ponta do iceberg. Porquanto, o inciso XXXVIII, alínea “c)” do Art. 5º da Constituição Federal expressa: “XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: [...] c) a soberania dos veredictos;”.
O acanhamento a que se dá destaque a este postulado constitucional, em razão dessa matéria é o que realmente se quer discutir. Um país de cuja sociedade repousa sob o manto de uma das maiores Cartas Políticas que se tem notícia, inequivocamente, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não pode, de sorte alguma, conviver pacificamente com um ideário estabelecido e que se quer respeitar. Não pode conviver pacificamente, sem exigir que o Conselho de Sentença não fundamente efetivamente sua decisão. Porquanto, entende-se, embora como um instituto secular, dita soberania soa com0 um toque de arbítrio. Há de se convencionar, certamente, que este postulado é derivado da síntese do Poder Judiciário, sobretudo, nas questões dos delitos praticados contra a vida, que são de decisão e responsabilidade do Conselho de Sentença. Não extraindo o seu real valor, e nem poderia, porquanto, há concordância num ponto, o de dar-lhe destaque à sua soberania. A parte discordante é justamente a não necessidade de fundamentar suas decisões, e que dessa não necessidade, não possa surgir de efeito uma nulidade absoluta.
Não com a riqueza pretendida no texto, contudo, atrair num consórcio da mesma forma de pensar, mas com a riqueza merecida, tamanho o destaque do que se está a discutir, traz Nucci:
No Tribunal Popular, onde vige a plenitude de defesa, com maior razão, deve o juiz presidente acompanhar e a analisar, com zelo redobrado, o conteúdo da argumentação da defesa técnica, pois, diante de jurados leigos, tudo que for narrado tem seu valor e peso. Ilustrando, se o defensor alegar várias teses em prol do réu, mais sem qualquer harmonia entre elas, pode desacreditar o acusado e gerar desconfiança no espírito dos jurados, permitindo, então, o voto condenatório. Por certo, há cabimento em alegar teses subsidiárias, embora não contraditórias. Afirmar legitima defesa e estado de necessidade, ao mesmo tempo, representa insuficiência de conteúdo defensivo, não podendo ser aceita pelo juiz presidente. Em suma, a análise do conteúdo da defesa pode e deve ser realizada pelo Judiciário, em prol do principio constitucional da ampla defesa. (2012, p. 62-63)
Nos países do hemisfério sul, o indivíduo esteve ainda por muito tempo relegado à condição de coisa e não de pessoa. A insistência que se faz em trilhar as linhas norteadoras da Carta Régia de 1988 é para, enfim, aproximar-se do leito, em que repousam as efetivas garantias. Antes, o Direito Penal era tido apenas como o Direito de punir. Inobstante esse Estado Punitivo, se valia de sua força atômica, de forma implacável, dar uma resposta à sociedade pelos ilícitos cometidos. Não era dado ao delinquente o Direito de Defesa, quase sempre negado em razão dos seus parcos recursos. É cediço ao Direito Penal, que fora sempre constituído, pelos pobres, miseráveis, pretos e prostitutas, ou seja, houve sempre um público alvo. Este público em que o Estado somente dele se lembrara, quando havia a oportunidade de exercitar a sua força, como força de contenção. Excluindo-os da sociedade, para dar paz e tranquilidade àqueles que estavam avante seja pela educação ou pela forma de produzir.
Traçar, ou melhor, precisar a origem da Dignidade da Pessoa Humana como um valor a ser respeitado por todos, não é uma tarefa qualquer, ao contrário, é bastante espinhosa.
Nesse oriente, o homem é diferenciado por classes sociais. A delinquência se alastra muito mais, nos rincões onde habita a pobreza, onde reina exclusão social. É nesse campo onde a República Punitiva mais atua. E atua exatamente em razão da falha da República Social. Uma cede espaço à outra.
É necessária a insistência de não perder de vista alguns momentos históricos onde a pena e a Dignidade Humana foram apartadas por um abismo imensurável. Nesta ordem, se faz necessário relembrar o suplício de Damiens. Em que Michel Foucault (2005, p. 9), assim, trouxera na sua obra “Vigiar e Punir”, traduzida no relato da Gazeta d’Amsterdã. É inacreditável como o ser humano se deleita com o sofrimento do seu semelhante. Fora assim com o escravo Spartacus, com Jesus Cristo e Damiens. Os dois primeiros tiveram morte por crucificação. Não raro o espetáculo teatral com que o Estado exibia a sua pena mais cruel. A história das penas, esteve modelada pela crueldade, pela barbárie, pelas mutilações e pela execração pública. Forma adotada pela República Penal, como se para dar exemplo àqueles que se revoltavam ou para semear o medo, de modo que a República estivesse sempre intocável.
Muito mais que as torturas, tem-se, que a humilhação, o modo desprezível como a rigor são tratados aqueles que delinquem, é verdadeiramente uma das maneiras mais cruéis de afetação à Dignidade Humana.
Não fossem os holofotes giratórios de um corpo social, repousando nas consciências dos corpos julgadores, em que se deposita por derradeira a esperança. Não fosse o amparo da imprensa séria, não se falando jamais na força midiática da imprensa sensacionalista. Mas sim de homens e mulheres dotados de boa vontade, revestidos de um sentimento de justiça, seguidores de virtudes advindas de suas fontes religiosas, assim como um corpo social, revestido de um tecido jurídico de justiça, não permissivas de que situações vividas no passado pudessem ser revividas no presente.
É bem verdade, a República Penal busca fôlego na imprensa sensacionalista, de modo a perseguir um falso ideário de justiça, sem analisar o rastilho de pólvora, toda vez em que a República Social se ausenta de suas atividades.
Negar o acesso à educação, à saúde, ao trabalho, ou qualquer outra fonte que o Estado prometeu tutelar, este cede fatalmente espaço à execração social, fonte turvada da maior parte das delinquências. Não bastassem esses fatores, é importante lembrar que o capitalismo exagerado é meio distribuidor de fome e de miséria. Ambiente propício para que o indivíduo mergulhe no vasto oceano da marginalidade.
Neste rumo, basta um olhar em torno deste panorama, e extrair os resultados da ausência da República Social, bem como a razão do emergir da República Penal.
Um Estado que prometeu tutelar os bens juridicamente mais importantes: vida e liberdade; sem permitir o acesso voluntário à educação, à saúde, à moradia digna e ao trabalho, igualmente é construtor de um vasto parque de promiscuidade e marginalidade. Neste passo, por lamentável que possa ser, há de se eleger o Estado como cúmplice da degradação social.
Não há de se falar do aumento da criminalidade sem que esta esteja associada à falta de oportunidades. É necessário traçar um perfil, uma equalização e, por conta disso, uma má justa distribuição, não de rendas propriamente ditas. Mas de oportunidades, como fator libertário da maior parcela da sociedade. Albergada, sobretudo, pelo público alvo, já relatado neste trabalho.
No Estado em que, lamentavelmente, a maioria do povo vive relegada a um segundo plano, exatamente porque lhe faltara incentivo em setores básicos de toda e qualquer sociedade, não pode se valer da prática da tortura, da injustiça, sob pena de um retrocesso quase que infindo como se quisera revolver a obscuridade e a barbaridade das penas medievais.
Nesse trilhar, deve a República Penal amoldar-se aos preceitos constitucionais, não se esquivando de fazer permear as garantias, seja no Processo Penal, seja quanto à Dignidade da Pessoa Humana. Afinal, expõe a República que tolherá a liberdade do indivíduo, toda vez que ele tiver cometido um ilícito penal. Por esta ordem, esse ilícito enseja um processo capaz, ao final, de retirar esse bem que é a liberdade.
Na visão do publicista José Afonso da Silva, é de salutar importância à preservação da vida e da liberdade, como bens de maior valor a ser tutelado pelo Estado. Eis o que expressa o renomado autor:
A vida humana, que é o objeto do Direito assegurado no art. 5º integra-se de Direitos Materiais e Imateriais; a vida é intimidade conosco mesmo, saber-se e dar-se conta de si mesmo um assistir a si mesmo e um tomar de posição de si mesmo; por isso é que ela constitui a fonte primária de todos os outros bem jurídicos.
[...]
A liberdade tem um caráter histórico, porque depende do poder do homem sobre a natureza, a sociedade e sobre si mesmo em cada momento histórico; o conteúdo de liberdade se amplia com a evolução da humanidade; fortalece-se, à medida que a atividade humana se alarga. A liberdade opõe-se ao autoritarismo, à deformação da autoridade, à autoridade legítima; o que é válido afirmar é que a liberdade consiste na ausência de coação anormal, ilegítima e imoral; daí se conclui que toda a lei que limita a liberdade precisa ser lei normal, moral e legítima, no sentido de que seja consentida por aqueles cuja liberdade restringe; como conceitos podemos dizer que liberdade consiste na possibilidade de coordenação consciente dos meios necessários à realização da felicidade pessoal. O assinalado o aspecto histórico denota que a liberdade consiste num processo dinâmico de liberação do homem de vários obstáculos que se antepõem à realização de sua personalidade: obstáculos naturais, econômicos, sociais e políticos; é hoje função do Estado promover a liberação do homem de todos esses obstáculos, e é aqui que a autoridade e liberdade se ligam. O regime democrático é uma garantia geral da realização dos direitos humanos fundamentais; quanto mais o processo de democratização avança, mais o homem se vai libertando dos obstáculos que o constrangem, mais liberdade conquista. (1999, p. 17-20).
Todo ilícito penal impõe ao Estado o dever de identificar com clareza e precisão os elementos definidores da conduta delituosa. As normas incriminadoras desapegadas à necessidade de objetividade; além de descumprirem a função de garantia que é inerente ao tipo penal, qualificam-se como expressão de um discurso normativo absolutamente incompatível com a essência dos princípios que norteiam o Processo Penal dentro das regras da República Democrática.
O Direito Penal consiste, sobretudo, de estruturas típicas e, por conseguinte, flexíveis, em razão de uma hierarquia principiológica ante a norma. É necessário restar claro os objetivos do tipo penal. É que o regime de indeterminação do tipo penal implica, em última análise, na própria subversão do postulado constitucional.
É nesse ponto que a República Penal tem o dever de punir com ética, afastando toda e qualquer possibilidade de adoção de Leis Retroativas, excepcionando-se quando for favorável ao acusado (princípio da irretroatividade da lei penal); seja banido do ordenamento jurídico tratamento cruel e desumano ao acusado de modo geral, não importando o tamanho da lesão praticada, bem como não se esquecendo de que, efetivamente, o acusado é, por conseguinte, um sujeito de direitos.
Tendo por norte que a República Penal não pode fazer do processo judicial um palco para arbitrariedades. O Processo Penal não é, e longe de ser um mero ato teatral de execração e vingança pública. Longe disso. A função jurisdicional exige dessa República, clareza e transparência. Princípios estes que devem revestir o processo no universo das garantias constitucionais, de que são portadores os sujeitos. Em suma, o processo deve estar recheado de transparência e serenidade. E sua vigília deve ser de tal ordem tão constante e tão intensa, de modo a não permitir jamais, que, quem quer que seja não importa o grau que ocupe nessa linha processual possa descuidar, de modo a permitir que uma só dessas garantias se perca, sob pena de macular o processo, o que vem a ser ensejador na nulidade processual, ou que arraste o acusado a um suplício extravagante e duradouro de um processo mal formado. Assim é o desgaste da República Penal e das demais garantias, do qual é revestido dito processo, sob o manto da Carta Magna que o impõe.
Essa foi toda vida a preocupação do grande jurista Nelson Hungria, aqui não descansa a repetência de que este fora o seu postulado enquanto penalista, um perseguidor de que não se perdessem as garantias que se revestem os acusados de modo geral. Para o renomado Ministro, a acusação tinha que restar clara, escancarada, não permitindo jamais qualquer viés que pudesse ensejar a menor dúvida, de que, efetivamente, o acusado cometera o delito penal que estava a responder, ainda assim, não era dado retirar-lhe as garantias.
Neste mesmo passo, o eminente constitucionalista, segundo o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, em voto proferido no Pedido de Extradição 986, “é a boa aplicação dos direitos fundamentais de caráter processual – e aqui merece destaque a proteção judicial efetiva – que permite distinguir o Estado de Direito do Estado Democrático”.
Traz o art. 93 – IX, da Constituição Federal, que as decisões judiciais devem estar, amplamente, fundamentadas. Esse dever que a Carta Régia impõe à República Penal busca sentido de legitimar o Poder Judiciário perante a sociedade; esse dever exige através do juiz que está a representar naquele ato processual a República, acima de tudo, o dever de humanizar suas sentenças. Deixar a passo largo os ranços da punibilidade a qualquer custo, soterradas num passado que não se quer revolver, por extensão, cumpre decerto esclarecer. O STF tem expressado reiteradas vezes as decisões de razoabilidade e motivação que traduzem irritação e se despojam de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos deve ser adotada pelo poder público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. Esta dicção vale, insista-se, para qualquer Processo Judicial e não apenas para os que tenham consequências criminais.
Lições extraídas do grande ícone das ciências jurídicas brasileiras, o eminente e saudoso Rui Barbosa, em resposta a Evaristo de Morais Filho. São três parágrafos de sua resposta que resumiram, com perfeição, a doutrina, desde então, sempre repetida entre os grandes nomes das ciências jurídicas do Brasil e com abnegada devoção ao dogma da deontologia profissional do advogado, assim expressa:
Ora, quando quer e como quer que se cometa um atentado a ordem legal se manifesta necessariamente por duas exigências, a acusação e a defesa, das quais a segunda, por mais execrando que seja o delito, não é menos especial a satisfação da moralidade pública do que a primeira. A defesa não quer o panegírico da culpa ou do culpado. Sua função consiste em ser, ao lado do acusado, inocente ou criminoso, a voz de seus direitos legais.
Recuar ante a objeção de que o acusado é “indigno de defesa” é o que não pode fazer àquele que toma a si outorga da defesa técnica de toda e qualquer acusado. Tratando-se de um acusado em matéria criminal, não há causa em absoluto indigna de defesa. Ainda quando o crime seja de todos o mais nefando, resta verificar a prova; e ainda quando a prova inicial seja decisiva, falta não só apura-la do cadinho dos debates judiciais, senão também vigiar pela regularidade estrita do processo nas suas mínimas formas. Cada uma delas constitui uma garantia maior, ou menor, da liquidação da verdade, cujo interesse em todas se deve acatar rigorosamente (2010, p. 19).
O processo, como se refere o imortal jurista Rui Barbosa, deve ser, todo ele, rebocado de garantias das quais não se pode arredar, até porque, o que aparenta tantas vezes, lampejar de verdade, pode não o ser. Justamente nesse passo é que diferente do processo civil, o processo criminal fomenta um princípio, fulgurante, de modo a revestir o juízo valorativo de todas as peças que instruem o processo, de modo a que o julgador esteja de tal sorte, revestido de toda a segurança possível, de maneira a não restar a menor dúvida de ser o acusado culpado ou inocente.
Não se deve olvidar jamais, pois o processo penal deve ser de tal forma, cristalizado, porque se alimenta de outras tantas nascentes: sejam no ramo dos princípios fundamentais de Dignidade da Pessoa Humana e outros tantos, sejam na psicologia jurídica, na filosofia e sociologia. Todas essas fontes vão preencher o processo de todas as formas que possam evidenciá-lo de modo que este conjunto principiológico desemboque na foz da consciência do julgador. Essa consciência, por sua vez, alimentar-se-ia do que se denomina “princípio da verdade real”. Princípio este inarredável do convencimento do juiz para pronunciar ou impronunciar, após a instrução processual.
Nesse trilhar, há de se preparar todo um plano de desembarque do conteúdo contido no processo. Tome-se, por exemplo, o que está por trás da face oculta do garantismo penal.
A delinquência é, por si, um lento caminhar de uma decadência moral. Apesar de pesquisas profundas, seja no campo da sociologia ou das ciências criminais, de cujas conclusões, rompem o paradigma do comportamento humano e sempre imprevisível.
Há um digladiar constante do comportamento humano em relação ao seio social em que convive. Não é dado precisar com segurança se a nascente do indivíduo delinquente está no seio familiar, na sua micro comunidade, ou, se é uma degeneração patológica, tantas vezes relatadas nas inenarráveis crônicas sociológicas que descrevem as características do homem delinquente.
Como narrara Maria José Contijo Salum (2008, p. 1), de muito o mundo ocidental copiou as ideias trazidas por Cesare Lombroso e Garofalo. Na verdade, repita-se, é difícil analogia, pescar nessa fonte e ter tais informações como um ponto de referência. Isso não basta, em razão de o tempo ter demonstrado através de novas pesquisas, sobretudo, embrenhado nas fortíssimas ideias da psicologia de Lacan, não se devem medir o caráter e a formação sociológica do homem por suas características físicas.
A mesma autora (2008, p. 1) ainda aponta a corrente defendida por Lacan, a qual defende, também, a tese de que, possivelmente, o meio, o habitat natural, o círculo gravitacional do indivíduo poderão ser condutores dos malefícios e da degradação moral do dito indivíduo.
No seio da sociedade, salvo acaso uma patologia, que não pode ser descartada sobre nenhuma hipótese, há de se conceber, ser o meio social um dos condutores mais fortes para a degradação e a decadência moral do indivíduo, fazendo deste um delinquente em potencial.
A delinquência não nasce ao acaso, ela carece, sobretudo, de elementos condutores como fora dito. A rigor, e não há como descartar a ponte, por conseguinte, a ausência da República Social, e, neste ponto, é mister insistir a ausência da oportunidade educacional de qualidade, a ausência de uma moradia digna, a ausência do emprego, a ausência de uma justa distribuição de renda, todos esses elementos faltam, e faltam na maioria das vezes.
A antinomia da República Social faz nascer uma metamorfose que cede lugar à República Penal. Homens e Sociedade se digladiam em um combate mortal até atingir o ápice do Estado de Barbárie. Esse processo não teria livre trânsito, se em dado momento do estado D’alma não se derivarem a frieza, a indiferença e, sobretudo, a insensibilidade. A leviandade brota da falta de firmeza do cumprimento dos deveres.
Há de se perceber, de forma especial, em comunidades relativamente minúsculas, o berço educacional não é exatamente a família ou a escola, porém, o núcleo deteriorado, que gravita em determinado território, sejam professores de uma enorme interdisciplinaridade das ciências da criminologia, sejam pelo domínio de um determinado território, sejam para fazer do infanto-juvenil pequenas aeronaves transportadoras de envelopes de cujo invólucro contém toda espécie de drogas, sejam para que ela própria, a criança, enverede desde cedo na delinquência, praticando determinados furtos, e, depois, toda sorte de crime. Isso é efetivamente a interdisciplinaridade educacional dos primeiros anos do infanto-juvenil.
Traz a Carta Magna Brasileira de 1988, educação é dever do Estado e Direito do cidadão. O art. 6º e 205, CRFB/88, faz esta tradução de forma tão clara, a ponto de se pensar que a República Social, efetivamente, está a zelar por esta tutela erguida dos elementos mínimos das organizações fundamentais de um Estado, que são senão os Direitos Fundamentais consagrados na dita Carta Política Brasileira.
A par do comparativo, de um lado, a República Social, do outro lado, Micro Organizações Educacionais do Crime. Porquanto, há de restar claro. A ausência da República Social, cedendo espaço à República Punitiva, está num ponto infinitamente subjetivo. Não há como se desgarrar da noção perceptiva, haver falhado a República Social.
Isso demonstra, via de regra, que os males devem ser combatidos na sua nascente. Eis uma mínima ilustração, do comportamento infanto-juvenil dessas micro faculdades do crime.
O indivíduo começa, a rigor, cometendo pequenos ilícitos e, por conta disso, reina uma aparente tolerância por parte da República Social. E sob o manto desta tolerância, por omissão do Estado, insista-se do que já fora narrado, ausência da atuação estatal em pontos fundamentais.
Todavia, não é dado perecer na zona cinzenta do esquecimento, haverá sempre um túnel infinito na condução da liberdade na concepção do crime. Seguindo as lições trazidas pelo autor Gilberto Callado de Oliveira:
No processo criminógeno, o agente não dá um salto imediato para a culpabilidade, como repentinamente renegasse ele os seus deveres e se tornasse um individuo antissocial; há nele um trabalho lento e inconsciente de erosão moral, em que se lhe vai esboroando, ao largo de sua vida, o edifício espiritual, que desmorona, no fim e ao cabo, como resultado de uma sucessão de falências. Ocasionalmente, os momentos intelectual e volitivo da conduta criminosa podem estar de tal forma unidos no tempo, (v. g., em face de um impulso de ódio), que o processo de degradação é instantâneo, repentino, mas nunca isento de certo assentimento, de alguma forma de aquiescência nos primeiros impulsos ou no desenvolvimento dos atos, que decorrem talvez de uma personalidade mal formada (2011, p. 28).
É princípio reinante na Carta Magna Brasileira, o inciso LVII, art. 5º, in verbis: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Tem-se em sede de garantias fundamentais inerentes à Pessoa Humana a extrema dependência da República Penal a este princípio, se o indivíduo é impulsionado à delinquência, e esta advém da sua idade inimputável, conforme preleciona o art. 26 do Código Penal Brasileiro.
Logo, se faz imperativo o mirar detido e apurado a esse panorama. E, neste oriente, e, para além dele, é necessário traçar um conceito temporal que, de tal ordem, possa objetivar a subjetividade processual, quando este indivíduo alcança a idade da imputabilidade penal. Aí sim começa o digladiar mais implacável entre República Social e República Penal. A primeira não adquirira, nesse lapso temporal, um dique de contenção à praticidade reiterada na fase da adolescência, ou seja, na fase da inimputabilidade penal. Como num passe de mágica, aliás, na metamorfose, que ocorre à velocidade da luz, surge a República Penal.
Nesse debruçar, todas as atenções estarão voltadas para este novo delinquente, o delinquente imputável. Esta linha imaginária que separa o delinquente juvenil do homem delinquente na sua fase adulta, infinitamente subjetiva, como subjetivo, é precisar em que termina a República Social e em que começa a República Penal.
Neste diapasão, conviverá, doravante, na mesma caldeira dos infinitos conflitos, que afligem a todos que circundam este ambiente. A começar pela família, pelo micro berço que, a princípio, o criou, pela República Penal, que assumira o lugar da República Social e, sobretudo, pela dilapidação dos valores morais que atingem não só a sociedade, mas de resto o Estado como um todo.
É nessa perspectiva e muito além que se faz necessário um debruçar a esse estado diluído de coisas, sobremaneira, a dilapidação dos valores morais e sociais, por conta do declínio da República Social.
Nesse trilhar, se faz inarredável entender a “via cruces” ou o seu “intiniere de dolor”. É deveras imensurável o estado de garantias do acusado, como bem expôs Nucci (2012, pp. 62-63), e que merece, portanto, uma extensão ainda maior do papel do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, quebrando o adormecido paradigma de que, no processo penal, em especial, na sua segunda fase, dos crimes contra a vida, o Tribunal do Júri não poderá ser mais afeito à posição de inércia do Juiz. Ao contrário, por se tratar de um Tribunal composto por juízes leigos, pessoas simples do povo, o papel do Juiz togado, do Juiz Presidente, não podem ser resumidas à mera presidência de trabalhos.
Cabe a este ser de notável saber jurídico, o juiz, conhecedor profundo das leis, e do processo em pauta, que é a sessão plenária do Tribunal do Júri, nesse aspecto, o Juiz tem o dever precípuo de estar, como disse Nucci (2012, pp. 62-63), atento e, se for o caso, se entender, que o defensor do acusado não possui técnica suficiente para traçar uma linha defensiva; deve, de pronto e imediato, suspender os trabalhos, adiar para uma nova data aquela sessão plenária e dar com zelo e ética a nomeação a um defensor dativo e, em premissa maior, alguém cujo currículo mereça do Juiz essa nomeação.
O que não pode, de certo, é permitir que o acusado fique indefeso. Tamanhas são as garantias conquistadas pelo indivíduo, neste caso, também não se pode negar um sujeito de direitos. Não importando aqui, o que não está em discussão, o tamanho da lesão cometida.
2.3 O Direito ao Silêncio e a Não Autoincriminação
A história vem trazer revelações, feito o reluzir do último astro prestes a se consumir ao raiar do sol. Neste circuito, e muito além dele, ronda a insensatez de não se debruçar no Direito inato. Esse Direito existe muito antes da norma. Ele existe desde a complexidade da linguagem. Os povos adquiram o hábito da comunicação, seja por sinais, por sons, pela mímica ou qualquer outro meio. Insta saber que o Direito da comunicação ou da não comunicação, da fala ou do silêncio é muito anterior à norma. Ele nasceu com o homem. E, assim, deva ser respeitado.
São imanentes ao indivíduo prerrogativas derivadas da sua dignidade, como o direito de silenciar. Nesse trilhar, não é dado olvidar que o maior dos líderes da humanidade, Jesus Cristo, silenciara quando do seu interrogatório no sinédrio (LUCAS 23:8-9). Nas várias inquirições feitas por Herodes, este nada lhe respondeu, limitando-se tão somente a não afirmação do título que Herodes o denominara: “És tu, reis dos judeus? – Dizes tu. – Meu reino não é deste mundo”. Dessa derivação que atravessou mais de vinte séculos, há controvérsia, no silenciar do acusado. Outra passagem de cuja emoção, os séculos que antecederam não conseguiram apagar, revela-se quando dá ocasião do aprisionamento de Maria Antonieta nas torres medievais, sob a auspiciosa ignara vontade de Robespierre. Eis a resposta de Maria Antonieta quando acusada de incesto: “Se não respondo, é porque a própria natureza se recusa a responder a tal acusação feita contra uma mãe! Faço um apelo a todas as mães presentes”[1].
Neste contexto, e muito além, há de se perseguir uma estrada a trilhar, de modo a entender tal garantia de direito de silenciar.
O princípio que emana o Direito de silenciar revela-se numa tradução manifesta da não autoincriminação e do “nemo tenetur se detegere”.
A Carta Régia Brasileira de 1988, no seu art. 5º, LXIII, de forma fosforescente, explana também o art. 8º, I, do Pacto de San José da Costa Rica.
Diferente do que encarta o inciso LXIII do art. 5º, da CRFB, ao traduzir de modo expresso, como uma garantia da mais alta envergadura, portanto, fulgurante no resplandecer do art. 5º da Constituição, logo repousa sob a madorra de cláusula pétrea. Com isso, se quer afirmar estar muito além de meros pressupostos ou mesmo com o mais acatado respeito em sede de decisões das Cortes Superiores. Há, por excelência, um encarte explicitado dessa garantia. Isso demonstra a seriedade e a responsabilidade aviltante do legislador constituinte, na sua originalidade. De cujo extrato, não poderá ser alterado pelo legislador derivado nem mesmo no caso de que esta Carta Política venha a ceder espaço a uma outra. Ainda assim, essas garantias reveladas pela originalidade daquela legislatura, porquanto, foram eleitas para esta finalidade. Mesmo na hipótese de uma possível natalidade de uma outra, essas garantias persistirão, pelo menos, em tese, e é o que preleciona a mais renomada doutrina, jamais cederão. Trata-se, repita-se, de cláusula pétrea, ou seja, impassível de modificações que restrinjam a sua eficácia.
Exatamente neste pensar, de forma transcendental, Cesare Beccaria carregava, já à época, essa inquietação. Na visão do humanitário pensador, restava evidente a tradução dessa preocupação, eis seu posicionamento.
Uma contradição entre as leis e os sentimentos se naturais do homem nasce dos juramentos que se exigem do réu, para que seja um homem veraz, quando seu maior interesse é mentir; como se o homem pudesse jurar, com sinceridade, contribuir para a própria destruição; como se a religião não se calasse, na maioria dos homens, quando fala o interesse (1997, p. 78).
Neste passo, não há o entender em demasia, na autoafirmação de que o silêncio não é exatamente sinônimo de mentira, muito embora o acusado querendo, possa se valer dessa faculdade. O que não se está a defender, mas sim, o Direito de silenciar.
Impera no senso comum um juízo precipitado no sentido de valorar uma culpabilidade em razão do silêncio. No traduzir, é o mesmo que assim expor: “quem cala consente”, o que é passível nas matérias cíveis, como apresenta o Art. 111 do Código Civil. O silêncio, muitas vezes, não é hospício como forma de esconderijo da verdade ou da mentira, mas sim, um sentimento inerente talvez a um dado indivíduo. Isso porque é imanente ao ser conservar os temores.
O que pensar o indivíduo quando sobre ele incide, às vezes, a deformação de ilícitos em dado processo. Porque não é moldurar nesta conspiração, uma possível acusação da prática de crime hediondo. Nesse diapasão, pensar quais seriam os sentimentos deste indivíduo, diante da coroa espinhosa e das lascas da madeira mal entalhada, de cujos grampos lhes rasgam a carne. Apenas num simulacrum do que ocorrera com o filho de Deus. Como pensar arrancar do indivíduo uma confissão, sobretudo, quando esta confissão está alicerçada nas sombras e nas névoas da dúvida.
Será que os testemunhos deixados por Cesare Beccaria e Michel Foucault não foram suficientemente claros a ilustrar de modo a que os operadores do Direito, quando e, sobretudo, nas ações penais mais severas, se quer revelar o ponto mais alto da ação delitiva do indivíduo, e não meros tropeços, meras ranhuras, tão comumente relatadas no dia a dia. O que se está a discutir são as atrozes ações delitivas, que por si recheiam a República Penal e o Raio Social que a clareia ou as tenebrosas revoltas advindas dos maremotos que inundam, às vezes, as inconsciências do julgar humano. Nessa correnteza pós-tenebrosa tempestade, não se podem precisar os estragos que possam causar ao indivíduo, porquanto agora repousa no enlameado universo das incertezas.
É nesse trilhar e não me contendo apenas a este, mas para cursionar muito além de que o ato de julgar é de tal ordem um ministério tão fino que não se pode efetivamente, imaginar, julgar seu semelhante, formando uma convicção precipitada de culpa, pelo fato de ele optar pelo Direito de se calar. Até mesmo, quando este calar seja um ato proposital para se livrar ou, pelo menos, minorar o lastro ou o depósito infamante, degradante que é senão o revestimento com que se reboca a consciência do indivíduo que, porventura, tenha caído em desgraça.
Não se propõe jamais a um abolicionismo penal, contudo, pretende-se e aí até o esvair exaurido dos tendentes a esta corrente minimalista, porquanto humana, irradiada talvez pela inspiração do criador. Não restará justiça, tampouco haverá de reluzir no homem um sentimento de respeito ao seu semelhante, se não carregar consigo, o mínimo dos princípios fundamentais. Ou seja, o mínimo da organização mandamental divina traduzida na Constituição mosaica, ditada pelo criador, segundo o velho testamento. Nenhuma ordem será erguida se não respeitados os valores inerentes à pessoa.
Nessa esteira, tem-se como um Direito consagrado à personalidade, um princípio macro que é senão o princípio da Dignidade da Pessoa Humana. É nesse campo que se quer semear esse silêncio. Até mesmo em razão de se refugiar num manto protetivo, rebocado nessa dignidade contra as hostilidades, e as intimidações e porque não dizer as torturas psicológicas a que o individuo está a enfrentar, especialmente quando acusado de um ilícito penal, com maior reprovabilidade social.
Por este curso, e aí se repita neste intiniere de dolor, trava-se uma batalha forense não muito diferente das batalhas do reino animal quando impera a vontade do mais forte nas incansáveis tentativas de devorar sua presa. É assim o Processo Penal, quanto mais grave o ilícito, a caçada é mais feroz e quase que descomunal. Reside, por conta disso, num hospício inimaginável de horrores, seja na tentativa de que se vale o Estado de sua força atômica, e aí representado por seus legionários mais hábeis e algum deles mais cruéis, apartados, por conseguinte, de valores e sentimentos de humanidade. Seguindo avante e sempre na busca de veredas que o coloquem à boca da toca do animal refugiado que é senão o acusado.
Pensar num Processo Penal em que de um lado ostenta-se a República Penal, erguida e estruturada com os mais variados dispositivos à sua disposição. Insistir ainda e é verdade, se o delinquente for pessoa de parcos recursos, não raro, na maioria das vezes. Por consequência pasmem! Terá, invariavelmente, com certeza defensor ou defensores sem a devida experiência, muito embora reste convencionado, inclusive pacificado em sede do STF.
A defesa quando nomeado dativo deve ser por profissionais de cuja carreira o curriculum não negue sua experiência e habilidade nos Processos Penais. Infelizmente, assim não é. Trata-se de uma utopia da utopia. É cediço tratar-se de uma espúria imaginação, porquanto os grandes profissionais do ramo do Direito Penal, decerto, além de serem profissionais de uma valoração financeira no mercado, carregam na sua bagagem uma seleta carga de processos que lhes tragam fama e dinheiro. Essa é a Lei do mercado, infelizmente. Todavia, se faz inolvidável não estar regendo um contrato de obrigações, mas sim elegendo objetos, aqui traduzidos, não coisas, mas pessoas. Pessoas, portadoras de sensibilidades e de direitos, embora infratores, delinquentes, reincidentes tantas vezes, mais ainda assim sujeitos de direito.
Neste caminhar, inobstante a condição humana, humilhante que é figurante do polo passivo, na Ação Penal, cuja persecução esposa-se no Capítulo I do Título I – Parte Especial do Código Penal Brasileiro, não se pode obviamente declinar de que não seja este no Processo, um sujeito de garantias. Não cabendo, essencialmente, fazer recordar o já narrado neste trabalho que quer desembocar no oceano povoado pelas naus da República Punitiva, de cujo resultado e, na maioria das vezes, alcança é processar e condenar numa proporcionalidade, quase que inalcançável, o acusado quando lampejar a possibilidade de ser este acusado culpado das imputações a que esta República lhes atribui. As minguadas oportunidades ofertadas no Contraditório e na Ampla Defesa padecem por conta e, sobretudo, pela inabilidade de sua defensoria técnica. Só sendo robustecida, se acaso o delinquente ou o acusado tiver condições de arcar com uma defensoria extremamente qualificada.
Com essa preocupação, entende-se que o Estado Penal deve respeitar ou fazer-se respeitar todas as fases do Processo Penal, sem ele, o Estado viola os princípios da Ampla Defesa ou ele próprio aceita num conluio macabro os desvios, ou os atalhos buscados pelo órgão do Ministério Público, de modo a encontrar as brechas, as frestas, os passadiços ou os caminhos menos prováveis para alcançar o seu propósito que é senão punir o acusado.
É com essa preocupação, é com essa vigília e ainda sobrestado, num velar infinito, de modo a também e com este mesmo zelo, cuidar “o direito ao silêncio, não seja traduzido jamais em prejuízo do acusado, ou até mesmo em levantadas dúvidas, por conta de dito silêncio, quer dá sociedade, quer dos pares que no futuro hão de julga-lo”.
É nessa esteira, ou melhor, é nessa peneira que deve ser cessada e arremessada no leito corrente dos rios, de modo a não mais retornar, toda e qualquer prova, ou juízo de valor, sobretudo contra o acusado. Deve a República Penal, ao contrário do sensu, traçar sua persecução, no garimpo de pepitas que assegurem ao indivíduo, ao acusado de modo geral, as provas que, de alguma forma, possam contribuir em sua defesa. Um Estado democrático e pleno de Direito não pode, como se estivesse numa mesa de uma intervenção cirúrgica, ser confiado às mãos de inábeis profissionais. Essa transmutação à República Penal numa similitude da Ação Penal ou do Processo Penal faz emergir esse cintilar inquietante, numa assimetria paralela.
O paciente é conduzido à sala para uma intervenção cirúrgica. Se o seu diagnóstico for de solução amena, certamente, que tudo volta ao normal após uma bem sucedida intervenção médica. Assim, é o Processo se a equipe que ali está exercendo o fino Ministério de fazer valer acima de qualquer outro ponto, a vida como bem maior. Está também a República Penal de tal ordem comprometida a fazer valer a liberdade, só a interrompendo, se a gravidade da moléstia, vale dizer, se a gravidade do delito for de tal ordem tão maléfica à sociedade, e, se efetivamente, restar o lampejar, tão claro feito a luz do dia, límpido feito astros reluzentes na infinitude do firmamento, de modo a não restar dúvida alguma ter o indivíduo, efetivamente cometido o delito que lhe é imputado.
Pois de outra forma, estaria a República buscando, incessantemente, subterfúgios, ciladas, armadilhas e nesses artifícios todos se valendo, como que inconsequente quisesse dar explicações à sociedade, ou mesmo deixando-se arremessar por um açodado sentimento de ira, o mesmo sentimento de que, às vezes, é possuído o ser humano a ponto de absorver no mais íntimo recôndito de seu ser, sentimentos soberbos, até mesmo, num digladiar débil e banal, de convicções, muitas vezes, açoitados, de cujo equívoco não quer permitir sua seção, pela matiz ignara de um repudiado sentimento de egoísmo.
O que dizer da eternização do princípio contido do inciso LXIII do art. 5º da CRFB. Como derivação da valoração principiológica deste, “in verbis”, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.
É de elementar importância voltar numa visão toda especial, em relação à Lei 11.689/08, que passou a permitir que a sessão plenária do Tribunal do Júri, tivesse curso mesmo sem a presença do acusado, pois repousava enorme divergência, sob a inconstitucionalidade da presença do acusado nesta sessão. Neste sentido, refere-se o julgado do STJ (RT nº 710/344); da inconstitucionalidade, jurisprudência da suprema corte (HC nº 71.923-6/PE, DJU de 24.02.1995).
Se, a partir de então, é permitido o curso da sessão plenária do Tribunal do Júri, sem a presença do acusado, esse vagueante do Processo Penal que o conduziu a esta segunda fase, logo, esse arremesso não deve ser encarado como um propósito e um fim de condenação do acusado, tampouco o seu silêncio. Neste particular, reside uma metáfora que não pode ser ora esquecida que é senão a mesma metáfora de Platão em alegoria da caverna.
Se o acusado não está por força desta nova Lei obrigado a comparecer na sessão plenária do Tribunal do Júri, imagine formar-se uma convicção de valor em razão de silenciar no processo e no curso dele, uma vez que sua ausência não mais confundiria a mente dos que irão julgá-lo. Inobstante a tudo isso, há de se verificar tratar-se, agora, de um instrumento da mais apurada análise por parte de sua defensoria técnica, a sentença de pronuncia. Apartada de tudo quanto continha do Processo, e, neste caso, à parte, porquanto o acusado optara por silenciar, um centenário princípio ocidental, de origem latina: “nemo tenetur se detegere”.
Esta sentença de pronúncia deve extrair do julgador uma imparcialidade infinda, de modo a não fazer mensurar, ainda que em silhuetas quase opacas, um leve traduzir de que este silêncio estava a esconder peças que, por si só, acusariam o indivíduo que é, neste caso, e de agora em diante, o elemento mor de todas as atenções no Processo. Essa sentença deve ser e estar no ápice maior da imparcialidade, porquanto o julgador, subtrai-se agora do cargo que ostentara até então, vale dizer, o cargo de presidir este Processo, na conclusão de sua primeira fase, sendo afastado desta função, para dar lugar aos que irão sucedê-lo.
Declina da ordem do juiz natural, quer dizer, do juiz monocrático, para ceder espaços a um colegiado muito especial, que é o colegiado, sorteado a partir de uma centena de cidadãos da mais alta extirpe e da mais depurada incolumidade social, e dessa depuração, sorteados vinte e cinco membros que deverão, por força do ofício, comparecer à sessão do Tribunal do Júri. Lá, um novo garimpar, desses vinte e cinco, serão sorteados sete, em que tanto a defesa quanto a acusação poderão, sem justificação alguma, rejeitar em inúmero de três, cada, e serão supridos pelos que remanescem à disposição da República Penal, para, enfim, dar um veredicto derradeiro. É incansável, a persecução dos princípios que norteiem a Ampla Defesa.
Neste particular, o constituinte originário foi de uma sapiência elogiável, cuidando de inserir este repetido princípio em sede de princípio eterno na Carta Régia Brasileira de 1988, está a se referir ao princípio contido no inciso LXIII, do art. 5º da CRFB. De modo que dele emanem todas as convicções que asseverem ao indivíduo esse Estado pleno de Ampla Defesa e que o mesmo seja estanque em qualquer outro fim que insista passar por cima da impenetrável muralha protetora dele, traduzida, certamente, para o amparo da dignidade do sujeito agora do Processo que está figurando no polo passivo.
Nessa ordem e para além dela, não é dado descuidar de sempre que possível, atrair toda a esfera da República Penal para se ladear à defensoria de modo a permitir tanto o insistir da inviolabilidade dessas garantias como também auxiliar esta defesa no garimpo das pepitas que garantam a possibilidade de que o acusado se defenda das imputações que, contra ele, lhes fora formulada, e assim, ele, o acusado e aqui por derivação sua defensoria, na maioria das vezes, albergada na causa que lhes fora confiada, fazer-se pautar por todas as linhas de defesa reais e robustecidas, de modo a evitar um simples lapso ainda que menos complexo, não permitir a menor fresta que possa comprometer a defesa – o Direito eterno da Ampla Defesa no Processo Penal. Ao menor risco de contágio, o processo seja de logo fulminado de nulidade absoluta.
Se faz de plano uma condução futura, de modo que a sentença de pronúncia traduza apenas aquilo que fora coletado no curso processual, e que restou, portanto, ao final desta primeira fase, o que se denomina e o que é mandamental, restando dúvidas, determine que a sociedade julgue, onde se faz mister o princípio “in dúbio pro societat”. Portanto, estendido ainda no leito deste Processo o menor lampejar de dúvidas, permite a República Penal que o acusado seja por derradeiro julgado nesta primeira instância por um colegiado, pares de uma mesma sociedade, nem muito acima nem muito abaixo. Apenas o ideal contido no princípio da esfera paralela do profano[2]. No mais, com a mais esmerada preocupação para fazer inserir nas sábias palavras do eminente professor Eugenio Pacceli:
Com a Lei nº 11.689/08, e mais, desde a Lei nº 10.792/03, o que já se continha de modo implícito no ordenamento jurídico brasileiro, por força do texto constitucional, ocupa definitivamente seu espaço no Direito Processual Penal:
a) Em primeiro lugar, a exigência de se esclarecer o acusado de seu direito a permanecer calado e a não responder perguntas, nos exatos termos do disposto no art. 186, CAPUT, do CPP, cuja redação anterior encontrava-se já revogada;
b) Em segundo lugar, a vedação de valoração do silêncio em prejuízo da defesa, conforme se acha agora também expresso no parágrafo único do mesmo art. 186 do CPP. Nada mais evidente: se é direito que estamos falando como poderia ser sancionado seu exercício?
Entretanto, há algumas questões que devem ser esclarecidas.
Nessa visão, é possível extrair, a faculdade de o acusado optar por silenciar, até pode ser encarada como uma articulação defensiva. Mas não se pode permitir a extração maliciosa, o que não raro se vale a República acusatione, na avareza de atrair ao seu polo, e ao seu turno confissões de um acusado, em meio ao turbilhão de coisas que se desenharam a partir ou não de um delito que a ele fora imputado, agarrar-se a qualquer meio, ao mais imperceptível fio de esperanças, que possam retirar-lhe o enorme peso. Seja pela inocente imaginação, de que este Estado Penal dele se apiede. A rigor, o indivíduo apega-se a certos fragmentos tão vulneráveis, às vezes, traduzidos como maliciosa postura, a fim de ocultar vestígios ou situações que possam denotar sua culpabilidade ainda soterrada nos escombros do desmoronamento da sua aterrisagem moral.
O silêncio não pode e não deve ser valorado, mesmo porque as cargas portadoras de produtos de toda ordem, se o valor probante quer dizer o inidôneo probatório erguido pela República Penal, a fim de obter uma certeza judicial, é de tal ordem duvidosa, feito ramos secos prestes a desabar de árvore robusta, similar aos votos de pobreza franciscana. O silêncio é de tal ordem o de passar ao réu de modo que este possa saltitar do quadrado processual que o impõe, ao ponto de permanecer em outro espaço o aguardo de que seu silêncio poderá ser coadjuvado por provas que busquem a defesa. Neste particular, permanece o acusado à mercê, do seu defensor, como se fora ele uma espécie de semideus, um redentor enviado, de modo a descarregar de seus ombros os fardos de um processo que ora lhe encaminha às muralhas que o aprisionarão, tolhendo aquilo que lhe é mais valoroso depois da vida, que é senão sua liberdade. Neste universo embaraçado de coisas, o acusado busca se defender de todas as formas, das lesões que ora lhes são imputadas, valendo-se de todos os meios, deles alguns, até certo ponto condenável, como, por exemplo: o Direito até de mentir em sua defesa. Porém, outros, tão claros, tão límpidos que não podem ser nodoados nem mesmo pela força atômica do Estado que o acusa. Como é este que se está a referir, eleito neste trabalho como o Direito regente da Ampla Defesa que é o Direito de silenciar. Por extensão, como modo a ilustrar, tome-se a cargo o dever de velar por esta garantia, uma vez o Direito consagrado no inciso LXIII, do art. 5º da Carta Política de 1988. O código que rege o Processo Penal no Brasil, somente fora alterado quinze anos após a promulgação da Carta Maior. Com advento da Lei nº. 10.792/03, no seu art. 186, afirma o Direito ao silêncio, que possui o acusado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. Por conseguinte, o Direito ao silêncio não importará a confissão, nem poderá ser interpretado em prejuízo de sua defesa ignara.
Neste rumo, há de perseguir intensamente um conciliar entre o Estado Penal, trazendo como valor maior a Dignidade da Pessoa Humana. É nesta colisão, às vezes, tão criticada pela sociedade ignara. Não se deve descuidar jamais da preocupação transcendental de Rousseau, pois, em sua obra “Do Contrato Social”, tem-se que o Estado prometeu e é real tutelar os bens jurídicos inerentes a este corpo social. Premissa partida do indivíduo em si, somado a outros, tonara-se depositários fieis ao Estado, não só sua liberdade, contudo, seus bens outros, um deles valorado ao extremo, que é a vida, um outro à propriedade, derivação do habitat natural deste dito indivíduo em seu núcleo familiar. Todavia, não restou comprometido pelo ideário revolucionário de Rousseau, esse Estado se colocasse a serviço dos caprichos, de um egoísmo desmedido e, sobretudo, dessa voraz precipitação que encarna não raro à sociedade, e lhe atribui um poder de fazer imperar perante a regência republicana o dever de perseguir e tolher a liberdade do indivíduo, como forma de obter uma resposta convincente e imediata, mesmo que, para isso, tenha que saltar os obstáculos que lhes estão a frente, de cujos obstáculos denominar-se-iam garantias fundamentais inerentes à Pessoa Humana. Incluindo, entre estas, o Devido Processo Legal.
Não é dado aqui um decorar de artigos e princípios, porque muitos acompanham a consciência humana, e lhes são inatos. Ainda que não houvesse uma ordem suprema maior, que todo o indivíduo, a exceção dos que desacreditam na existência de um Deus Soberano, hão de debruçar suas convicções de que existe uma supremacia universal, de cujos princípios, nascem com a existência do próprio homem, como, por exemplo: o Direito à vida e à liberdade. São bens naturais, nascentes antes do Direito, ou melhor, são bens de Direito natural, nascem com a própria vida. Ainda se não existisse Deus, ainda se não existissem as Leis, ainda assim, esses Direitos existiriam. Logo, velar para que o Direito a liberdade, ainda quando essa liberdade está sendo perseguida pela República Penal, deve fazê-la guiada por princípio de razoabilidade, princípio de justiça e não de meras convicções satisfativas a si e à sociedade.
Nessa precipitação, de que tantas vezes a mente humana é impulsionada, se faz tão necessário recapitular um dos julgamentos mais controvertidos da história, está a se referir ao julgamento de Jesus Cristo. Antes de tudo, um simulacrum de julgamento. A precipitação da plateia israelita querendo se livrar a qualquer custo de um maltrapilho, esfarrapado, líder de uma imensidão de pobres, miseráveis, parasitas e excluídos. Era um obstáculo à sociedade elitizada de Israel à época. Fazia-se ali imperioso, se desse logo e de pronto um resultado que satisfizesse naquele instante os mais achegados aos tentáculos do maior poder imperial reinante na terra naquele momento histórico, que era, senão, o império romano considerado até hoje, o maior império de todos os tempos. Excetuando o império divino obviamente.
Não se quer, de sorte alguma, fazer uma conexão fundada em dogmas religiosos e espirituais, contudo relatar e, neste particular, não há como desacreditar, de que realmente tenha havido este julgamento. Retorne-se, por conseguinte, ainda tomando como base fragmentos de relatos históricos, mas, sobretudo, o contido no maior, mais completo e rico texto constitucional de que se tem notícia, a Bíblia, o Livro Mandamental dos povos cristãos em todos os quadrantes da terra. Este personagem a que se está a se referir, optara, inegavelmente, pelo silêncio.
Tomando por base este relato, vai se abrir um leque de questionamentos, a ponto de iniciar, abrindo, evidentemente, como texto a primeira pergunta: o homem evoluíra ou não ao longo de mais de dois mil anos? – Talvez não –, a mesma soberba como que a plateia israelita, num desenfreado e esquizofrênico apelo quando perguntado por Herodes, se preferiam o nazareno ou Barrabás, o facínora mais temido daquela comunidade. O que passara na mente daquele povo, ao insistirem no pedido de pena capital a um condenado sem culpa, contra um facínora praticante dos crimes mais hediondos. Teria sido em razão de ter optado o Galileu por silenciar? Reina entre os homens e parece, assim, haverá de reinar, não se sabe por quanto tempo ainda, essa precipitação, esse arrojo, essa vontade de ver logo e de pronto condenado o indivíduo e, às vezes, sem uma razão aparente. Sem uma justificativa que traga plausibilidade, que denote lastro erguido sobre fortes pilares. Condena- se por qualquer coisa. Fosse dado, condenar-se-ia, até mesmo, uma criança de colo, quando por rebeldia, renega, às vezes, até um psiu do colo que o abriga, na maioria, daquela que lhe dera a vida. Fosse dado à sociedade julgar nesse sentido, certamente, milhões e milhões de crianças teriam sido crucificadas, repita-se por este desejo voraz, por esta precipitação humana, de inconsequentes e fins injustificados.
Retorne-se ao cenário que se estava a desenhar, quando inquirido por Herodes se libertavam Jesus ou Barrabás. A sociedade colerizada, embebida por entorpecentes que lhes turvavam a razão só enxergando aquilo que lhes era convencional. O desejo de se livrarem às pressas de um homem que só espalhara a paz, o amor e a comunhão entre os seus. Seus relatos bíblicos, efetivamente, serviram e servem de ilustração, seu Direito nasce e se inspira nas suas fontes primárias e uma delas é o Direito canônico. É refeita, mais uma vez, a pergunta: quais as razões que levam à sociedade a julgamentos tão precipitados?
Herodes vira-se para a multidão enfurecida, mesmo depois de terem optado por condenar o Galileu, insiste o tetrarca: “- Mas não lhe vejo culpa! – Não há nada de incriminador neste homem”. – Mesmo assim, aquela sociedade enfurecida estava impregnada de um sentimento de despeito, a ponto de não recuar, e o coro ensurdecedor continuou: - “Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o”.
Vê-se não muito diferente após dois mil anos convivendo com o recordar daquele julgamento, ainda assim, a sociedade exerce seu papel, firmando juízo de valor, apontando e não cedendo nas suas convicções quando se destinam a julgar alguém, sem sequer dar crédito ao esforço que tem o acusado, de demonstrar no seu contraditório a sua Ampla Defesa. Faz-se prudente uma verificação da contemporaneidade, no ilustrar do julgamento do casal Nardoni. A imprensa em incessantes veiculações trazia ao público e dele recebia toda sorte de opinião que traduzia a audiência de determinados programas televisivos, ser aquele casal culpado.
Tomara não. Contudo, quem sabe no futuro, como tudo será desvendado, se um dia restar provado aquele mesmo julgamento precipitado que fizeram de um inocente ter decretado a sua pena capital de morte por crucificação ser também o casal Nardoni inocente da pena que a sociedade o condenou, traduzido pela força midiática, certamente convencedora ao colegiado que sentenciara o casal.
É nesse velar não só a defesa, mas a República Penal, não pode se desapegar de um princípio regente que conduz este processo que é “o princípio da busca da verdade real”. Nesta locução, o mistério impõe também à defensoria técnica, uma vez aceitando patronar o acusado no Processo Penal, não apenas fazer convencer de uma verdade que lhe é conveniente por força da profissão, mas, muito mais que isso, buscar, a todo custo, atrair ao Processo, em cada estação que for dado baldear, carregá-lo no vagão responsável por depositário das cargas processuais, todas as informações reais possíveis. Se restar de pleno, o convencimento da defesa de que o acusado é culpado. Ainda assim, deve se revestir de todo o esforço possível, para, ao final, fazer valer sua aguçada técnica no sentido de minorar as acusações que pesam sobre os ombros do acusado. Daí, não poder se conduzir pelo opinativo social, porquanto, também, carrega um dever, um ministério tão importante, somente confiado aos abnegados que é o humanismo, por trás das normas e regras que é, senão, o humanismo que contempla o princípio da Dignidade da Pessoa em todas as esferas sociais.
Nesse oriente, tem-se o Direito de silenciar que não pode, não deve sofrer por parte da sociedade qualquer reprimenda, ou mesmo qualquer atitude que coloque em risco a integridade física e psíquica do acusado. Não se está a pregar o abolicionismo penal. O que se está a perseguir são os ideários de justiça que se pretende também no Processo Penal. Não se pode conceber, e longe de acreditar um Estado que se ergue sob o manto de uma Constituição. De cuja Constituição inseriu vários princípios que, direta ou indiretamente, enseja o Direito do Contraditório e da Ampla Defesa. Possa ser amarrotado por descaminhos e afoitezas a fim de dar uma resposta social. Não é efetivamente este o caminho a ser trilhado, mesmo por uma República Punitiva, sem permitir que o acusado, de modo geral, possa se valer deste enorme leque de garantias fundamentais. Estancar o exercício dessas garantias remete a um retrocesso inenarrável, somente visto nas penas impostas pelos povos medievos, de cuja ilustração maior se traz o relato de Michel Foucault na sua obra Vigiar e Punir, traduzida no suplício de Damiens, entre tantos outros.
Além do mais, o Direito é um conjunto de ciências firmado ao longo do curso histórico da humanidade. É o corpo científico que vai fazer estabelecer a relação do indivíduo em sociedade. Não é dado esquecer outras fontes primárias também reguladoras deste convívio em sociedade. Tome-se a exemplo o Código de Hamurabi, a pena de Talião: “olho por olho dente por dente”. O mundo contemporâneo está muito além do velho Código. O mundo contemporâneo não pode mais respirar a vingança de sangue. Com isso, se quer dizer não pode a sociedade fazer semear a todo custo na mente daqueles que foram escolhidos para julgar o seu semelhante, seus sentimentos de vingança. No que fora confiado ao Estado o poder de tutelar os bens jurídicos mais relevantes, nele, é preciso confiar, e para que ele, o Estado, possa julgar com justiça e esse é o fim precípuo que não deve ser conduzido por emoções ou sentimentos que lhe permitam penetrar num litisconsórcio ativo, impregnado de sentimentos de repúdio e, sobretudo, de vingança. Não são e longe de ser sinônimo de justiça. A verdadeira justiça efetivamente deve ser exercida nos moldes esboçados nas normas jurídicas, sobretudo, com a inspiração voltada a uma ordem constitucional, acima de todas as outras, por mais especiais que possam parecer. É nesse sentido que ele, o Estado, deve fincar os seus ideais de justiça e dar uma resposta à sociedade, garantindo, com clareza e transparência, a tutela de que é depositário temporário, porquanto as parcelas do crédito da sociedade devem ser repartidas ao seu donatário final que é senão o indivíduo. É nesse universo de coisas, é num caminhar cuidadoso, de modo a permitir, que o Processo, ao final, reste num julgamento justo, mesmo que seja para condenar ou absolver o indivíduo.
Há quem diga que o conselho sentencial é razoável se formado por pessoas simples do povo. E esse, a princípio, era o pensar de Cesare Beccaria (2000, p. 29). Contudo, essa ideia, nesse ponto, não se pode negar ao imortal filósofo, a princípio correto. Todavia, com o evoluir da sociedade, e com o advento de novas leis, e com o relevo que os estados constitucionais encartaram as organizações fundamentais, elevou-se a dignidade humana como princípio regente de maior envergadura. Não é demais um recordar que os medievos, não apenas julgavam e condenavam. E condenavam na maior parte das vezes a pena capital. No horizonte da perspectiva, de que o homem houvera melhorado. Das consciências jurídicas dos legisladores dos Estados tidos como Constitucionais. A eleição da dignidade humana, erguida a patamares numa similitude de vida e liberdade. Nesta condição, tem-se que, já no início do século XX, o mundo vai contemplar duas grandes constituições: a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. Essas cartas serviram de paradigma a outras tantas mundo a fora. Entretanto, eleje-se a Constituição Brasileira como uma das Cartas mais perfeitas de que os povos tiveram conhecimento. Há uma ressalva saliente, na mais recente carta política da contemporaneidade que é a carta do bloco europeu, ao exibir no seu preâmbulo e além dele, a dignidade da pessoa humana como valor primário, inclusive à frente da vida e da liberdade. No mais, todas as referências que vêm, certamente, edificar a dignidade a esses níveis, quando tanto se prende em artigos científicos e produções acadêmicas.
Há uma necessidade revisora sempre que possível, de quando em quando, pelo menos de relembrar I. Kant, nos seus memoráveis imperativos, na sua busca incessante por uma paz eterna.
Nunca é demais pensar e conviver com os opostos. Há quem afirme, certamente, o sacrifício de uma minoria para salvação de uma maioria. Como explicitou Fabio Brych (2005, p. 1), quando explanou o pensamento do utilitarista Jeremy Bentham.
Eis uma situação oposta ocorrida há milênios, como a contida no texto do estatuto cristão, em que fora firmado por princípios, não permitir se perder nenhuma “ovelha do rebanho”.
A colisão entre o bem e o mal ressoa no universo social, assim como ressoa a explosão na teoria do big bang. Notadamente, há de se conceber a dignidade humana acima do bem e do mal, além das teorias do universo quântico.
Nessa valoração ao encontrar o seu destino, o indivíduo deve ser recebido como um sujeito de direitos. O indivíduo que senta no banco dos réus deve ser tratado à medida da sua culpabilidade, deve ser julgado de acordo com a ilicitude que lhe é atribuída. Não mais que isso.
A República Penal de tal ordem é a república propagadora e difusora, no sentido de que o acusado é, antes de tudo, um sujeito portador de garantias. Garantias essas inerentes à dignidade da pessoa humana. Neste plano, a República, mesmo esta República que se está a referir que é a punitiva, na sua mais ampla e rápida metamorfose, não é permitido desgarrar-se da República social, sob pena de que as decisões emanadas a partir de suas punibilidades excessivas descambem para a incredibilidade. Neste curso, é mister impor cobrança das ações excessivas e denunciar à sociedade os horrores das penas cruéis e degradantes, muito além do imaginário.
É imperativo esculpir em ferro e fogo, os limites punitivos do Estado. Feito um marco divisório por rochas, de modo a separar a punição além do permitido, uma vez que, do outro lado, reside o indivíduo de dignidade.
Na imensidão dos valores que hão de estar protegidos, o Estado punitivo não herda do Estado social, que fracassara, quando negara a este indivíduo uma existência digna pautada nos valores morais e sociais.
Não há certamente a intenção, e tampouco o objetivo de retirar a capacidade de esse dito Estado tutelar os valores morais e sociais. É seu dever, cuidar para que se tenha uma sociedade depurada em valores infindos. Entretanto, ser ele, o Estado por cursos ainda que efêmeros, ausentes de sua obrigação, pouca ou quase nenhuma moral possui para cobrar um comportamento social aceitável, edificado em valores e princípios universais. Declina a República social ao mais baixo nível, a ponto de confundir-se no contexto da reles social que ele quer corrigir, mesmo consciente de ter ele se omitido ao longo do tempo.
Entender a complexa trilogia Estado, governo e sociedade, inconveniente, se faz incursionar na sua historicidade. É de importância máxima traçar um perfil, uma sinopse fática da conjuntura atual. Neste ponto, haverá de refletir uma série de situações, de igual modo complexas, ao ponto de se temer se perca o Estado, se de pleno não traçar um plano que se amolde a sua realidade.
É necessário tomar um referencial, perseguir uma trilha, que conduza a um espaço de reflexão se houver possibilidade, no extrair dessa reflexão esboçar um modelo de governo, capaz de inserir no corpo social condições mais igualitárias de vida, e nessa perspectiva traçar o melhor caminho a ser seguido pela sociedade. Nessa linha horizontal, resta claro o tamanho da responsabilidade do Estado, na figura de seus governantes, quão complexa, no caso do Brasil, em especial, por se tratar de um Estado de dimensão continental, e de uma distribuição de renda das mais injustas do planeta. Uma população com quase 200 milhões de habitantes conservou no passado uma equivocada distribuição de rendas, premiando, ainda na maquiavélica ideia de Benjamin Constant, de eleger uma espécie de quarto poder, de modo, também, a sugar uma seleta categoria de nobres que estiveram e ainda estão com a posse das riquezas do país, em detrimento da fome, da miséria e da exclusão social. O resultado desta equação é inversamente proporcional. A riqueza deste vasto território constitucional concentra-se nas mãos de uma minoria privilegiada, denominada casta dominante, em oposição excludente à grande maioria mergulhada na mais profunda miserabilidade.
É denotável, sobretudo, buscar entender o estabelecimento da citada trilogia, Estado, Governo e Sociedade, com o sentido da ampla defesa na ação penal. Uma República erguida nesses moldes e, por conseguinte, assim governada, sobrevivendo nos escombros de tamanha desigualdade social, imaginar propensa à ruptura das garantias que possui o indivíduo, no curso do processo penal, é o mesmo que abrir novas valas de modo a depositar os entulhos de uma sociedade dilacerada. E cediço que as prisões, ou seja, os complexos penitenciários existentes neste Estado que se estar a referir, são por extensão iguais às masmorras medievais. Permitir por conta da supressão desses valores conquistados pelo indivíduo, retirando-lhe o direito de se defender com plenitude, é o mesmo que condená-lo a um vale de lágrimas, as caldeiras mais ardentes no imaginário popular que são as caldeiras do inferno.
É com essa preocupação que deve exercer a sua plenitude máxima, contra as ferrenhas e obstinadas investidas da República penal. Seja a defesa arquitetada sob o mais amplo e ousado projeto, erguer uma linha defensiva, unida por tijolos, que formarão o alicerce impenetrável que haverá de abrigar essas referidas garantias.
O processo penal deve transcorrer, sobretudo, às pegadas da moral e da ética. Qualquer investida oposta a estes valores deve ser rechaçada de forma implacável.
Nesse contexto, antes de adentrar na esfera prospectiva da imensidão de valores inseridos neste princípio, é de vital importância salientar que fora perseguido por grandes revolucionários, a despeito do humanitário Cesare Beccaria, quando da sua estampada preocupação com o direito do indivíduo frente ao Estado, se valer das garantias fundamentais inerentes à pessoa humana. Propagador, inclusive, da ruptura dos tratamentos cruéis e degradantes que eram ofertados nas masmorras medievais. Valendo-se o Estado da tortura para obter do acusado confissões que, na maioria das vezes, não traduziam a realidade ou a verdade dos fatos.
Por este olhar, é recomendável, a título de recepção histórica, alguns posicionamentos de Cesare Beccaria, não só impressionantes à transcendência do seu tempo, servindo, inclusive, de orientação para os postulados contemporâneos do Direito, inclusive a uma nova ordem neoconstitucionalista. Nessa nova ordem, se vai eleger, como, aliás, está inserto nos princípios da Carta Política Brasileira de 1988, o valor dos princípios-normas, que tem no caso de possíveis conflitos, a sua conceituação àqueles de maior peso e valor, diferente das regras no postulado de um possível conflito eleger aquele de maior validade. Logo, por este circuito valorado, há de se compreender o valor e a extensão do que concerne à palavra liberdade, é, nesse sentido, que se faz incursionar aos ensinamentos de Cesare Beccaria, eis o que postulava o célebre autor na sua obra “Dos Delitos e Das Penas”, quando denunciava as torturas e as barbáries:
É uma barbárie consagrada pelo uso da maioria dos governos aplicar tortura a um acusado enquanto se faz o processo, seja para que ele confesse a autoria do crime, seja para esclarecer as contradições em que tenha caído, seja para descobrir os cúmplices ou outros crimes de que não é acusado, porém dos quais poderia ser culpado, seja finalmente porquê sofistas incompreensíveis pretenderam que a tortura purgava a infâmia.
Um homem não pode ser considerado culpado antes da sentença do juiz; e a sociedade apenas lhe pode retirar a proteção pública depois que seja decidido que ele tenha violado as normas em que tal proteção lhe foi dada. Apenas o direito da força pode, portanto, dar autoridade a um juiz para infligir uma pena a um cidadão quando ainda se está em dúvida se ele é inocente ou culpado. Aí está uma proposição muito simples: Ou o crime é certo, ou é incerto. Se é certo, apenas deve ser punido com a pena que a lei fixa, e a tortura é inútil, porque não se tem mais necessidade das confissões do acusado. Se o crime é incerto, não é hediondo atormentar o inocente? Efetivamente, perante as leis, é inocente aquele cujo delito não está provável.
[...]
Do mesmo modo aplica-se a questão a um acusado para conhecer os seus cúmplices. Contudo, se ficou provado que o suplicio não é um meio certo de verificar a verdade, como fará ela para conhecer os cúmplices, quando tal conhecimento é uma das verdades buscadas?
É exato que aquele que a si próprio se acusa, com maior facilidade acusará a outrem.
Além do mais, será justo torturar um homem pelos delitos de outro homem? Não podem ser descobertos os cúmplices pelos interrogatórios do acusado e das testemunhas, pelo exame das provas e do corpo de delito, enfim, por todos os processos usados para comprovar o crime? (2008, pp. 37-41).
É nesse circuito, e muito além dele, que os povos estiveram a perseguir esse ideário de liberdade. Nessa perspectiva, não apenas foram os juristas, mas, também, os poetas, os romancistas, os teatrólogos e outra enormidade de ciências que estiveram a perseguir esse direito de liberdade.
Nesse mesmo trilhar, e por ser exatamente a ciência do Direito enxertada de tantas outras, como sociologia, filosofia, criminologia, psicologia etc., reside a compreensão inarredável de ser, dentre todas as outras as ciências jurídicas, a que efetivamente mais se atentam ao status libertatis. Chancela consagrada no ordenamento pátrio, com previsão objetiva no Código Penal Brasileiro e, por extensão subjetiva, no Código Processual Penal Brasileiro. Institutos associados que vão, certamente, traçar o perfil do homem vivendo em sociedade e ao tempo lhes permitir tutela. Em primeiro plano à vida e, em segundo plano, à liberdade. É nessa convicção, e para dar tutela excepcional a esses bens jurídicos de extrema relevância, que o Direito estabelece parâmetros extremamente arquitetados de modo que a chamada “República Penal” não enverede em excessos, porque é necessário estancar esse alvoroço punitivo, por conta das garantias atribuídas ao indivíduo, no caso do Brasil, cuidadosamente elencadas nos incisos LIV, LV, LVII e LXIII, todos do Art. 5º da Constituição da República, sendo este último, o objeto principal do presente trabalho. Nessa mesma dicção, expressa o Art. 186, parágrafo único do CPP.
Por esse mesmo oriente, Guilherme de Souza Nucci chama à atenção para o relevo que se deve dar ao composto desses institutos, a que se está a referir, inciso LXIII do Art. 5º da CRFB/88 e do Art. 186 do CPP:
O silêncio do réu é garantia constitucional e de forma alguma poderá ser prejudicado por isso! Ao Ministério Público cumpre comprovar autoria e a materialidade do crime. O réu pode permanecer absolutamente inerte, comparecer ou não aos interrogatórios, responder ou não, sem que essa conduta lhe prejudique a defesa. Não raro, aliás, o escrivão de policia ou a própria autoridade policial sugere ou induz o investigado a responder apenas em juízo, isto pela lei do menor esforço ou porque outras atuações em flagrante o aguardam. (TJSP, Ap. 286.117-3). No mesmo prisma: STF: “em sede de persecução penal, o interrogatório judicial - notadamente após o advento da Lei 10.792/2003 – qualifica-se como ato de defesa do réu, que, além de não ser obrigado a responder qualquer indagação feita pelo magistrado processante, também não pode sofrer qualquer restrição em sua esfera jurídica em virtude do exercício, sempre legitimo, dessa especial prerrogativa (HC 94601-CE, 2ª T; REL. Celso de Mello, 4.08.2009, v.u) (2013, p. 443).
Esse arcabouço jurídico, de extensas garantias, vige nos ditos Estados Constitucionais, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e estabelecido, também, na Convenção de Viena. É nesse caminhar que se pretende, de logo e a tempo, ilustrar a importância que se deve dar ao indivíduo o direito à ampla defesa, tão extenso para se resumir numa simples oração. Extenso nas mais variadas concepções sociológicas e filosóficas. Eis que o homem nasce livre e, assim, tende a permanecer até o fim dos seus dias. Somente sendo interrompida essa liberdade, se, porventura, infringir um dos dispositivos previstos na lei penal. E, se isso efetivamente ocorrer, não seja punido com os excessos e com a extravagância e com a conservação abrupta de formação e convicção de juízo de valores, ainda que a lesão praticada pelo indivíduo cause de tal ordem um assombro social, seja de tal ordem repugnante, seja de tal ordem, contrário a todos os princípios de censura social. Ainda assim, seja por parte dos que operacionalizam o Direito, dos que vivem em eterna vigília, verdadeiros Templários da guarnição das garantias fundamentais inerentes à pessoa humana, e, neste contexto, extensivo ao homem delinquente.
A par disso, cabe revolver o episódio ocorrido no Rio de Janeiro com o garoto João Hélio, em que um grupo de facínoras tomou de assalto um veículo, rendendo sua condutora e conduzindo dito veículo por cerca de 7Km cidade afora, arrastando o menor João Hélio, pendurado sob o cinto de segurança por toda via asfáltica, sendo completamente dilacerado. Nada pode se comparar a tamanha crueldade. Episódio que revoltou toda uma sociedade, uma vez que foi um crime veiculado em toda imprensa brasileira e nos veículos de comunicações mais importantes do mundo. Se fosse dado fazer uma pesquisa de opinião, certamente, haveria, por parte da sociedade, uma reprovabilidade tamanha, difícil de precisar no imaginário do mais humanitário dos homens. Fosse dado à sociedade o poder de julgar, certamente, o seu veredito seria a pena capital.
É necessário, entretanto, ponderar que esse juízo de valor se faz por conta de uma revolta momentânea, tanto quanto irracional àqueles que praticaram tão feroz delito. Contudo, um Estado Pleno e Democrático de Direito, que açambarcou, agasalhou, albergou e garantiu por força de sua Constituição Federal no rico Art. 5 caput e em todo o elenco principiológico decorrente da chancela desse artigo, garantias inarredáveis, garantias inafastáveis, garantias irrenunciáveis, porque estão todas elas sacramentadas como cláusulas eternas (cláusulas pétreas).
No curso dessas garantias, ainda que a mente humana não esteja de todo preparada para enfrentar essa colisão, ou seja, entre a prática e a forma delituosa, elejam-se os chamados crimes hediondos (crimes repugnantes), ainda assim, esses delinquentes são, em suma, sujeitos de Direito. Não na acepção desse contexto, já que são praticantes de crimes horripilantes. Mas são sujeitos de garantias constitucionais. De modo que a “República Punitiva” assuma o seu papel, não podendo jamais permitir, nem se deixar conduzir pelo chamado clamor social, tantas vezes invocado com o cometimento de delitos que marcam uma sociedade. De modo a permitir o estanque dessas garantias, é nesse pensar principiológico, com um viés constitucional e humanitário, que deve ser conduzido de modo a premiar o rico princípio constitucional da ampla defesa, passando, necessariamente, pelo devido processo legal (due process of law), incursionando pelo princípio da presunção de inocência (inciso LVII do Art. 5º da CRFB/88).
Essa travessia tem sido a via condutora, embebida na sua passagem nas fontes mais importantes do direito de liberdade, quais sejam: Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção de Viena e Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a fim de fincar um marco assecuratório dos valores esculpidos nessas Cartas Constitucionais, e, enfim, fazer reluzir em todas as insígnias possíveis o valor do status libertatis, eleito na consciência humana, no coletivo dos Estados Constitucionais e nas ditas Cartas Políticas. De derradeiro, impulsionar a importância desses valores humanos, a despeito de Edgar Morin, criador da teoria da complexidade, pois o princípio da ampla defesa, assim como a complexidade de Morin (2000), tece toda a ordem principiológica elencada na Constituição Federal. De tudo isso, tem-se o substrato similar do direito à ampla defesa, extensiva ao que preconiza o inciso LXIII do Art. 5º da CRFB/88 c/c o Art. 186, parágrafo único do CPP.
Além das garantias que aqui foram reprisadas, cabe de espeque inserir com maior relevo o due process of law, o devido processo legal. De sorte que não se pode arredar de que este fora um princípio norteador de garantias fundamentais, é um princípio milenar e que, lamentavelmente, o Brasil só conseguiu recepcioná-lo tardiamente. O que vale dizer, dito princípio está insculpido no Art. 5º, inciso: XXX “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”.
Desse mesmo modo, o que não causa surpresa, também, o diploma processual penal em relação à Carta Política promulgada em 1988, que levou cerca de quinze anos para alterar o Art. 186 do Código de Processo Penal, inserindo neste o parágrafo único com a seguinte redação:
Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)
Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003).
É elementar, nesse contexto, convencionar no sentido de que o que fora narrado a respeito da supressão das garantias no processo penal, jamais poderia ser extenso aos juízes togados. Isso porque bem estancado fora no Art. 59 do Código Penal a competência do juiz para fixação da pena, obedecer aos requisitos fundamentais do dito artigo. Como o povo possui o livre arbítrio, e, em particular, o conselho sentencial, já que dá soberania do seu veredicto que não carece fundamentação. Dito isso, está-se a fomentar o quanto retardatário fora o Estado penal para só alterar o Art. 186 do CPP, quinze anos após a promulgação da Carta Política. O que significa dizer que durante quinze anos este artigo, da forma como fora redigido, estava completamente eivado de inconstitucionalidade. Eis o inteiro teor desse artigo antes da reforma de 2003: “Art. 186. Antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao réu que, embora não esteja obrigado a responder às perguntas que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa.”.
De tal positivação, restava de forma escancarada a supressão de dita garantia inserta no inciso LXIII da Constituição Federal. Em razão disso, é fácil detectar a dissonância havida entre o texto constitucional em si, eleito como cláusula pétrea, e a antiga redação do Art. 186 do CPP. Se no mundo jurídico restava comprometido o alcance dessa garantia, imagine na opinião do senso comum.
O devido processo legal é arcabouço jurídico indispensável no curso da marcha processual, e é, em regra, um código de ética condutor do processo. Eis que sua denominação revela o devido processo legal, ou seja, para que se cumpra, tem que estar carreado de toda legalidade possível ou alcançável, que explícita ou implícita na Carta Constitucional.
Muito além desta dimensão, vai se eleger com a honra merecida as lições trazidas para ilustrar o devido processo legal, Paulo Fernando Silveira:
Ora, se o Judiciário deixar, omissivamente, de exercer o controle da constitucionalidade da lei e dos atos administrativos, ele perde sua função legitimadora. É o que ensina Charles L. Black Jr. (The Building work of judicial review) ao fazer a seguinte observação: Se se tornar conhecido – mesmo como assunto de conhecimento tacito na profissão e na Corte, pois tal segredo não pode ser escondido do povo – quê se a Corte não ponderar seriamente as questões de constitucionalidade que lhe forem apresentadas e não declarar inconstitucionais as leis desafiadas, se acreditar assim ser, então sua utilidade com instituição legitimizadora (2001, p. 635).
Todavia, a razão esvai-se nesta tentativa de conceituar a marcha processual penal, no reclame que se faz reiterado da inserção das garantias alcançadas em torno da Constituição da República, se não residir no âmbito da interiorização do ser humano, com inspiração de verdadeiro humano, ou seja, os princípios não serão valorados se não estiverem atrelados ao espírito de humanismo que não deva estar apartado do ser humano, nem tampouco das instituições de lei.
É neste norte que Ingo Wolfgang Sarlet sintetiza a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais:
Para a afirmação da idéia de dignidade humana, foi especialmente preciosa a contribuição do espanhol Francisco de Vitoria, quando, no século XVI, no liminar da expansão colonial espanhola, sustentou, relativamente ao processo de aniquilação, exploração e escravização dos habitantes dos índios e baseado no pensamento estoico e cristão, que os indígenas, em função do direito natural e de sua natureza humana – e não pelo fato de serem cristãos, católicos ou protestantes – eram em princípio livres e iguais, devendo ser respeitados como sujeitos de direitos, proprietários e não condição de signatários dos contratos firmados com a coroa espanhola. No âmbito do pensamento jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, a concepção da dignidade da pessoa humana, assim como a idéia do direito natural em si passou por um processo de racionalização e laicização, mantendo-se, todavia, a noção fundamental da igualdade de todos os homens em dignidade e liberdade. Destacam-se, neste período, os nomes de Samuel Pufendorf, para quem mesmo o monarca deveria respeitar a dignidade da pessoa humana, considerada esta como a liberdade do ser humano de optar de acordo com sua razão e agir conforme o seu entendimento e sua opção, bem como – de modo particularmente significativo - o de Immanuel Kant, cuja concepção de dignidade parte da autonomia ética do ser humano, considerando esta (a autonomia) como fundamento da dignidade do homem, além de sustentar que o ser humano (o individuo) não pode ser tratado – em por ele próprio – como objeto. É com Kant que, de certo modo, se completa o processo de secularização da dignidade, que, de vez por todas, abandonou suas vestes sacrais, sem que com isso se esteja a desconsiderar a profunda influencia (ainda que expurgada da fundamentação teológica) do pensamento cristão, especialmente dos desenvolvimentos de Boécio e São Tomás de Aquino (notadamente no que diz com a noção de pessoa com substância individual de natureza racional e da relação mesmo entre liberdade e dignidade) sobre as formulações kantianas (2009, p. 34).
Há de residir na consciência do julgador que, por trás de todo o processo penal, existem dois polos, o ativo e o passivo. Já dito neste mesmo trabalho, os lamentos e a misericórdia que se nutrem pelos lesionados, quer direta ou indiretamente, quer a si ou à sua extensão. A si, quando lhe restar a vida, e por extensão aos familiares que sofrem a perda de valor inestimável que não se pode, sob nenhuma hipótese, valorar a vida, assim como a dignidade. Neste pensamento, Regina Pereira (2002, p. 3), fazendo uso particular de Immanuel Kant, com a sua sabedoria transcendental, traz uma síntese conceitual de dignidade, e explicitou que no reino dos fins, há um preço ou uma dignidade. A dignidade não pode, efetivamente, estar valorada, uma vez que ela é intrínseca, pessoal, inalienável, indisponível e irrenunciável. Portanto, o sujeito possui uma dignidade que lhe é tão própria, tão pessoal, que nem a ele próprio é dado lesar.
2.3.1 Nemo tenetur se detegere
A expressão latina nemo tenetur se detegere significa, literalmente, que ninguém é obrigado a se descobrir, ou seja, qualquer pessoa acusada da prática de um delito penal não tem o dever de se autoincriminar, de produzir prova em seu desfavor, tendo como sua “manifestação mais tradicional” o direito ao silêncio. São incontáveis os brocados latinos que traduzem esse mesmo princípio, a exemplo de: nemo tenetur se ipsum prodere, nemo tenetur edere contra se, nemo tenetur turpidumen suan, nemo testis se ipsum ou, abreviadamente, nemo tenetur.
O princípio do direito ao silêncio revela a tradução de uma das manifestações da não autoincriminação e do nemo tenetur se detegere (ninguém é obrigado a se descobrir), e foi uma das maiores conquistas da processualística penal, alcançada no séc. XVIII, o chamado “Século das Luzes”, um impulsionador de uma das maiores revoluções de todos os tempos: a Revolução Francesa. No apogeu da queda do absolutismo, vai surgir de modo fluente, reluzente, encandecedor o direito que cada indivíduo tem de não se autoincriminar, traduzindo para o latim, vale dizer, à incorporação do princípio do nemo tenetur se detegere.
Por essa via, há de se entender que houve uma superação do homem frente ao absolutismo estatalista e eclesiástico. Rompida essa fortaleza, e não é difícil imaginar de um lado o Estado e o Clero tentando permanecer além dos direitos do homem, e do outro lado a sociedade inspirada nos ideais impulsionados pela Revolução Francesa. Tem-se que, a partir daí, a sociedade concebe uma nova ideologia, esta revestida de direitos amplamente divulgados e difundidos com os ideários dessa revolução. O mundo ocidental, principalmente, vai se conduzir embalado nesses ideários de liberdade, que perpassa, obrigatoriamente, pelos direitos e pelas garantias fundamentais inerentes à pessoa humana.
A real significância, portanto, do princípio nemo tenetur se detegere reside na consistência afirmativa de que qualquer pessoa acusada da prática de um ilícito penal tem o direito ao silêncio e a não produzir provas em seu desfavor. Embora não tenham exatamente o mesmo conteúdo, há de se ilustrar que o direito ao silêncio e o direito a não autoincriminação estão, incindivelmente, ligados.
Nessa via valorativa, cumpre registrar a origem liberal do constitucionalismo norte-americano, esculpiu referido princípio na 5ª Emenda à Constituição, ao vedar conjuntura de um suspeito testemunhar contra si próprio, o que foi retirado na maioria dos casos de julgamentos da Suprema Corte daquela nação.
O princípio nemo tenetur se detegere, inserto na maioria das Cartas Constitucionais, especialmente das Américas e do ocidente, tem sido considerado direito fundamental do cidadão, e mais especificamente do acusado. Cuida-se do direito a não autoincriminação, asseguradora da esfera da liberdade do indivíduo, oponível ao Estado, eleja-se aqui lato senso o Estado punitivo. Nele, se dá ênfase à proteção do indivíduo contra os excessos e abusos dos sistemas estatalistas puníveis. Em síntese: redoma-se, de forma impenetrável neste oriente no acervo dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana, por extensão, o acusado. Sendo que ganha relevo a esfera atinente às ingerências do Estado. Nessa ótica, o princípio nemo tenetur se detegere, como direito fundamental, objetiva proteger o indivíduo contra ditos excessos cometidos pelo Estado, na persecução penal, incluindo-se, nele, o resguardo contra as violências de qualquer natureza, e aqui compreendam-se físicas e morais, empregadas para compelir o indivíduo a cooperar nas investigações e apurações de delitos, bem como contra métodos proibidos no interrogatório, sugestões e dissimulações.
Como direito fundamental, o nemo tenetur se detegere insere-se, o que é mais importante, entre os direitos de primeira geração, ou seja, entre os direitos da liberdade. O titular, o donatário de tais direitos, é o indivíduo diante do Estado.
O direito do silêncio é a manifestação de uma garantia muito maior, esculpida no princípio nemo tenetur se detegere, segundo a qual o sujeito passivo não pode sofrer o mais ínfimo prejuízo jurídico por omitir-se de colaborar em uma atividade probatória da acusação ou por exercer seu direito de silêncio quando interrogado. Cumpre afirmar nesse aspecto como força de lei que, do exercício do direito ao silêncio, não pode nascer nenhuma presunção de culpabilidade ou qualquer tipo de prejuízo jurídico ao imputado.
É como dizer a respeito de que ninguém está obrigado a produzir provas contra si mesmo, inclusive as atraídas pelo Art. 7º do Código de Processo Penal, que esbarra exatamente diante de um princípio de primeira grandeza, um princípio sob a égide de cláusula pétrea, a partir do momento de que ninguém estará obrigado a produzir provas contra si mesmo, logo, essas simulações, essas reconstituições só se efetivam se estiverem em consonância com o próprio texto principiológico constitucional. E mais além, por ser princípio fundante que dignifica a dignidade da pessoa humana, deve ser afirmado como irrenunciável, inalienável e indisponível.
Nessa ótica, há de prosperar uma convicção, que está intimamente ligada ao ser. E este mesmo ser, como sujeito de Direitos, não pode se desvencilhar de um Direito, que lhe é inerente, mesmo diante de extrema situação, e, neste caso, está a se referir à persecução do Estado Punitivo. Demais disso, nesse curso, o indivíduo, por ser um sujeito de direitos no que concerne ao Direito de permanecer em silêncio, de igual forma, não pode permitir que lhe sejam retiradas essas garantias.
O direito ao silêncio, ou o direito a não produzir provas contra si mesmo, está acima do próprio Estado. Qualquer tentativa, seja por parte de qualquer autoridade, diretamente ligada ao poder de punição que exerce o Estado, que tentar usurpar esse Direito, fará com que toda ação incursionada neste sentido, torne-se ineficaz. Com mais exatidão, será nulo. O Estado se reveste de um trinômio, na persecução penal, assim denominado: Estado Investigação, Estado Acusação e Estado Punitivo. Guiado por esta força, possui, é evidente, um arsenal inesgotável espairado pelos inúmeros tentáculos. Desde a mera presunção do cometimento do fato delitivo por parte do agente até o curso processual, para produzir, ou melhor, alcançar as provas que efetivamente possam incriminar o acusado. Nessa persecução, resta afastada toda e qualquer possibilidade de encontrar essas provas exatamente através daquele, que efetivamente está sendo acusado. Ora, neste caso, a República Acusadora, em particular na ação penal que é por via disso, a rigor, penal pública incondicionada, deve provar o alegado. É nesse norte, cujo caminho orientador não pode, efetivamente, perpassar pela revelação daquele que, efetivamente, está sendo acusado de um ilícito penal.
Não raro, aliás, comum, a República Punitiva busca atalhos, seja para dar explicações, ou mesmo satisfazer os anseios sociais, na falta da colheita de provas que possam incriminar o acusado, tenta, a todo custo, extrair daquele que está sendo alvo de investigação criminal, sua confissão. Por ser célere e convencional.
Muito mais do que convencional, do que a rapidez para se chegar à conclusão de que determinado indivíduo é efetivamente o agente responsável pelo cometimento de um delito. É racional, que esse Estado Pleno e Democrático de Direito seja, ele próprio, promotor de garantias e não promotor de acusações. Que esse Estado não se valha de seu poder como forma de responder rapidamente à sociedade, que clama por uma solução ao litígio.
A doutrina pátria, travestida por seus melhores autores são uníssonos em afirmar esses direitos consagrados na Carta Política Brasileira de 1988. Neste sentido, Mirabete e Pacelli, respectivamente, afirmam que:
O código dispõe que o réu não está obrigado a responder as perguntas que lhe forem formuladas, acrescentando que o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa. Essa ressalva, porém, foi revogada pelo art. 5, LXIII, da CF, que prevê o direito do réu de permanecer calado, sem qualquer restrição, proibindo, assim, que decorra do silêncio qualquer consequência desfavorável ao acusado (nemo tenetur se detegere). Decorre, aliás, dos princípios de presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa (1997, p. 265).
É que o julgamento feito pelo tribunal do júri não impõe o dever de motivação da decisão, vigendo, como se sabe, a regra da intima convicção, segundo a qual os jurados não estão obrigados a fundamentar as respostas à quesitação. Assim, quem se atreverá a exercer o direito ao silêncio correndo risco, historicamente comprovado, de ver utilizado contra si tal direito? Com a Lei nº 11.689/08, e mais, desde a Lei nº 10.792/03, o que já se continha de modo implícito no ordenamento jurídico brasileiro, por força do texto constitucional, ocupa definitivamente seu espaço no Direito Processual Penal: Em primeiro lugar, a exigência de se esclarecer o acusado de seu direito a permanecer calado e a não responder perguntas, nos exatos termos do disposto no art. 186, CAPUT, do CPP, cuja redação anterior encontrava-se já revogada; Em segundo lugar, a vedação de valoração do silêncio em prejuízo da defesa, conforme se acha agora também expresso no parágrafo único do mesmo art, 186 do CPP. Nada mais evidente: se é de direito que estamos falando como poderia ser sancionado seu exercício? [...] Nesse caso, não se cuidará de valoração do silêncio, mais de reconhecimento da inconsistência do conjunto da autodefesa. Consequência lógica da aplicação do direito ao silêncio é a exigência que se impõe às autoridades, policiais e judiciais da advertência ao réu do seu direito de permanecer em silêncio (art. 186, CAPUT, CPP), sob pena de nulidade. Não fosse assim, na prática, o principio jamais seria observado, como não o foi no famoso e paradigmático precedente da jurisprudência norte-americana Miranda vs. Arizona, em 1966, no qual se anulou a confissão prestada pelo réu, por ausência de informação de seus direitos constitucionais, entre os quais o de permanecer calado. Nesse sentido, STF – HC nº 78.708-1/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.4.1999 (2012, p. 377-382).
O Direito ao silêncio previsto no inciso LXIII, do art. 5º, da CRFB/88, assim como o art. 186, parágrafo único do Código de Processo Penal, garantem o direito que possui o acusado de permanecer em silêncio. Sem que esse silêncio possa causar prejuízo na sua defesa.
Eis o grande enigma. É possível que o Direito de permanecer calado tenha, segundo alguns historiadores, surgido na Inglaterra ao final do século XVI, isso, em oposição aos métodos inquisitoriais utilizados pelos tribunais para conseguir extrair do imputado alguma prova. A Carta Política Brasileira de 1988, como dita, fez a recepção desse dispositivo de forma a não deixar a menor dúvida de sua aplicação imediata, como, aliás, são todos os princípios fundamentais. Porém, a realidade ainda se apresenta muito distante. É difícil na visão dos que operacionalizam o Direito, entender que o silêncio, por parte do acusado, não faça dele um suspeito em potencial. Pois essas convicções estão arraigadas na mente humana desde os primórdios. Uma positivação principiológica e normativa que, infelizmente, não foi recepcionada por aqueles a quem é dado saber o valor dessa garantia.
Inobstante, até poder-se-ia numa apartheid de recepção humana e não devidamente positivada no ordenamento jurídico brasileiro pelas convenções internacionais que versam sobre os Direitos humanos, absorver, repita-se, como princípio humanitário, escusar-se de fazer uma valoração precipitada de julgar que o silêncio do acusado pudesse cortinar revelações que, certamente, o incriminaria no Curso do Processo Penal. Ainda assim, não seria dado, formar uma convicção antecipada de possível prejuízo que viesse depor contra o acusado.
2.4 Diplomas Internacionais
Na Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, restou explícito em seu art. 8º, 2, o princípio nemo tenetur se detegere como garantia mínima a ser observada em relação a toda pessoa acusada de um delito, redomando o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada.
No Pacto Internacional de Direto Civis e Políticos, também se fez consignar, ipsis litteris dispositivo reconhecendo nemo tenetur se detegere, estabelecendo-se, desse modo, que todo indivíduo acusado de um crime tem direito “há não ser obrigado a depor contra si mesmo, nem a confessar-se culpado”.
Nesse mesmo norte, há de consignar-se, e, decerto albergar na consciência de cada ser, muito mais do que em qualquer ordenamento positivado.
Reside uma máxima judaica elencada na Lei Mosaica que expressa: “Não darás falso testemunho contra o teu próximo”. Com essa máxima, se está a tentar incutir na mente humana a importância inserta neste princípio. Do qual se extrai a convicção inarredável do que ninguém mais apropriado do que os que operacionalizam o Direito, devam estar avantes para dar curso a essa premissa. Estancar sempre que possível qualquer insinuação do senso comum. Na maioria das vezes, precipitados em dar um veredito antecipado de determinada ação delituosa. O exemplo mais recente disso, de um julgamento ocorrido em tempos recentes é o caso Nardoni. Episódio em que a imprensa Nacional e Internacional, de forma precipitada, firmou o que já era esperado à opinião pública, imputando ao casal, os verdadeiros responsáveis pela morte da menor Isabela Nardoni. Arremessada do parapeito de uma janela do 5º andar de um edifício em São Paulo. Sem querer adentrar no mérito do Curso Processual, apenas para dar escopo à velocidade com que a opinião pública julga sem uma certeza objetiva de que, efetivamente, os réus tenham sido os verdadeiros autores do delito, aliás, papel que cabe ao Estado. Dito Estado que, ao invés de também se conduzir por essa afoiteza social, ao contrário, para, exatamente, dar uma resposta sadia a essa mesma sociedade. Nesse tipo de ação, em que pese todos os esforços da polícia técnica judiciária neste caso, restou lampejos dúbios. O corpo sentencial que compunha aquele julgamento não estava evidentemente todo isento, isso porque o alvoroço da imprensa Nacional e Internacional, arregimentou as opiniões quase que unânimes da sociedade, a dar um veredicto de culpado.
Não se está ainda a adentrar na fonte costumeira do ordenamento jurídico pátrio, o que se fará em momento oportuno.
Há de se revolver a importância do Diploma Internacional de Proteção aos Direitos do Homem, a declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia das Nações Unidas, em 1948, embora faça referências à presunção de inocências e a não-utilização da tortura, deixou de mencionar, expressamente, o princípio nemo tenetur se detegere.
Quanto à Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), leciona Bottino (2009, p. 76) que muito embora o texto de sua convenção:
[...] não tenha previsto expressamente o Direito de permanecer calado ou de não ser autoincriminar, há previsão de um julgamento justo e equitativo, conceito que remete ao Devido Processo Legal. Ao longo dos anos, a CEDH incorporou ao Conceito de Processo Justo a garantia de que o individuo não deve ser compelido a produzir prova contra si.
Nesse sentido, a maioria dos julgamentos das Cortes Superiores Europeias, com lastro no que expressa o art. 6º, nº 1, CEDH, tem vindo a densificar com a amplitude merecida o princípio nemo tenetur se detegere.
A par disso, registre-se por oportuno que a verossimilhança de um julgamento, lastreado com a presença principiológica de não se autoincriminar no ordenamento jurídico dos EUA, constitui um importante modelo para outros sistemas jurídicos. Trata-se do julgamento do caso Twining V. State, 211 U. S. 78 (1908), ocorrido em 09/11/1908. BOTTINO (2009, p. 55 – 57) registrou:
No julgamento do caso Twining v. State, 211 U.S. 78 (1908), ocorrido em 09/11/1908, a Suprema Corte dos EUA decidira que as primeiras oito emendas à Constituição – dentre elas a que garantia o direito de não se auto-incriminar, a 5ª emenda – restringiam apenas o poder estatal da união (governo federal) e não se aplicavam às jurisdições dos estados. A decisão da Suprema Corte naquele caso estabeleceu a existência de dois tipos de cidadania diferentes nos EUA: uma nacional e outra estadual. Assim, se um determinado direito, privilégio ou imunidade, embora fundamental, não decorre das características do federalismo e não está especificamente previsto na Constituição como oponível aos estados não pode ser alegado em processos criminais desenvolvidos no âmbito da jurisdição local. Ainda segundo a Suprema Corte, embora a 14ª emenda tenha incorporado à jurisdição federal e à estadual a cláusula do devido processo legal – com intuito de restringir o uso do poder estatal e evitar ações arbitrárias que pudessem atingir a liberdade e os bens dos indivíduos – não chega ao ponto de impor o respeito, por parte da justiça dos estados, da garantia de vedação de auto-incriminação quando esse direito não tiver sido incorporado pela legislação dos estados. Há momentos marcantes desse processo de expansão dos direitos dos cidadãos e de efetivação material das garantias constitucionais, como a decisão da Suprema Corte no caso Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954); a campanha de boicote às empresas de ônibus de Alabama nos quais os negros deveriam sentar-se separados dos brancos (1955); a “integração” de uma escola em Little Rock, no Arkansas, com a presença do exército (1957); dentre vários outros que culminaram, em 1963, com a presença de duzentas mil pessoas na “Marcha sobre Washington” reunidas para ouvir o famoso discurso “I have a dream” de Martim Luther King. Portanto, apesar das centenárias previsões constitucionais acerca do direito de não se auto-incriminar, será somente no contexto social dos anos 60 do século XX que a garantia revelar-se-ia de forma efetiva, como no famoso julgado da Suprema Corte dos Estados Unidos Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
Nesse curso, se faz imperativo registrar a Constituição Portuguesa. Embora não esteja, expressamente, na Carta Política de Portugal, o princípio nemo tenetur se detegere, segundo Dias e Ramos (2009, p. 14 – 15):
Ao contrário de outras Leis Fundamentais, a Constituição da República Portuguesa (CRP) não tutela expressamente o nemo tenetur. A consagração expressa no princípio surge no Código de Processo Penal (CPP), na vertente do direito ao silêncio (arts. 61º, nº 1, al. d), 132º, nº 2, 141º, nº 4, a), e 343º, n. 1, do CPP). Maugrado (sic) a ausência de previsão na CRP, tanto a doutrina como a jurisprudência portuguesa são unânimes quanto à natureza constitucional implícita do nemo tenetur. […] O princípio nemo tenetur goza de consagração constitucional implícito no Direito português ...., e desdobra-se numa série de corolário, o mais importante dos quais é o direito ao silêncio.
Nessa esteira, o princípio, segundo o qual, ninguém deve ser obrigado a contribuir para sua própria incriminação, que engloba o Direito ao silêncio e o Direito de não facultar meios de prova. Reside numa consistência de extensão inimaginável capaz de resguardar esse Direito Fundamental ao acusado, não importando sua origem, sua crença religiosa, sobretudo, seu grau de instrução, enfim, não sendo permitido qualquer pressuposto. Com isto, está a se dizer que essa garantia não pode ser auferida com maior ou menor intensidade, pela medida da camada social. É um direito intrínseco ao indivíduo e não a uma denominação de classes. Essa chancela está explicita no caput do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Como se está a discorrer com referência aos Diplomas Internacionais, tem-se, por conseguinte, que a importância do principio nemo tenetur se detegere, ainda que não reconhecido explicitamente na Constituição Portuguesa, entretanto, o art. 1º do texto Constitucional estabelece que a República Portuguesa é baseada na Dignidade da Pessoa Humana.
Essa referência, por si só, conduz de forma elementar, exatamente porque o Princípio de Dignidade de Pessoa Humana sobrepõe-se sobre todos os demais nesse sentido. Sendo o indivíduo o sujeito dignatário desses Direitos Fundamentais. Toda e qualquer Carta Política que versar sobre esta dignidade se faz estender ao princípio ora em comento, ou seja, o nemo tenetur se detegere. Nesse mesmo contexto, Menezes (2010, p. 122):
A nossa Constituição, contrariamente à de ouros países como os EUA, Brasil e Espanha, não contém uma consagração expressa do direito à não auto-incriminação ou do direito ao silêncio. Não obstante este facto, e à semelhança do que acontece na Alemanha, onde também não há previsão deste tipo, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que o princípio nemo tenetur configura autêntico princípio constitucional não escrito.
Nessa linha, há de se notar que o Doutrinador, ao comentar a ausência do Princípio nemo tenetur se detegere de forma explícita na Carta Portuguesa, faz uma referência eletiva ostentando à Carta Política Brasileira de 1988 a alçar Píncaros em destaque a grandes Estados Constitucionais a despeito dos EUA e da Espanha.
Com base no reconhecimento Internacional como fora citado pelo Doutrinador Português Menezes, a dado momento se estará a dar verdadeiro relevo a esse princípio consagrado no inciso LXIII, art. 5º, CRFB/88. Nesse mesmo caminhar, é o que contempla a Constituição da Alemanha. De acordo com Andrade (1992, p.124):
A Lei Fundamental não consagra expressis verbis o princípio nemo tenetur. Mas isto não tem impedido a doutrina e a jurisprudência germânicas de sustentarem, de forma praticamente unânime, que aquele princípio configura verdadeiro “direito constitucional não escrito”. Nesta linha, é já possível contar com um conjunto significativo de decisões do Tribunal Constitucional Federal, sistematicamente fiéis ao entendimento de que o princípio goza hoje, na ordem jurídica alemã, de autêntica dignidade constitucional.
O Estado Constitucional Alemão, de cuja Constituição de Weimar de 1919, serviu de referencial aos Modelos Constitucionais do Ocidente por representar, pela primeira vez ,de forma escancarada, os princípios norteadores das garantias fundamentais dos Direitos do homem. Nesse passo, convém um destaque todo especial a três grandes Mestres da Escola de Direito Alemã: Hans Kelsen, Carl Schmitt e Claus Roxin. Machado (2011, p. 1) demonstra o que segue:
Noutra quadra, Hans Kelsen compreendia a Constituição sob a perspectiva meramente formal, considerando-a como norma pura, sem qualquer pretensão de cunho sociológico, político ou filosófico. Nesse particular, ao apresentar a obra Teoria Pura do Direito, no ano de 1934, o jurista austríaco consolidava a divergência do pensamento de Carl Schmitt, cuja doutrina apregoa que "no hay ningún sistema constitucional cerrado de naturaleza puramente normativa, y es arbitrario conferir trato de unidad y ordenacíon sistemáticas a una serie de prescripciones particulares, entendidas como leyes constitucionales, si la unidad no surge de una supuesta voluntad unitaria".
Por essa via, muito embora Hans Kelsen tenha sido referencial maior adotado pelo Direito Brasileiro, no que concerne à positivação das Leis. Na segunda metade da sua intensa vida dedicada à teoria pura da Lei, também insere no seu rico currículo acervo concentrador de elásticos princípios das garantias de Direitos Fundamentais da Pessoa Humana.
Nessa mesma linha, convém ressaltar a importância de Carl Schimitt ao traçar o paralelo no que pertine compreender a elasticidade das garantias fundamentais dos Direitos do homem, conforme Machado (2011, p. 1):
Para Carl Schmitt, a Constituição, em sentido absoluto, é a concreta situação de um conjunto de unidade política e ordenação social de um Estado. A validade de uma Constituição não se sustenta na justiça de suas normas, mas, sim, na decisão política que lhe confere existência. Dessa maneira, não há que se falar em ordem constitucional de caráter unicamente normativo, como determina Hans Kelsen com sua norma fundamental. Na visão do autor alemão, o conceito de Constituição como sendo um fenômeno normativo não passa de mais uma idéia oriunda do positivismo liberal, que se nega a reconhecer o papel decisivo do poder político na função de uma ordem.
Talvez, por isso, como mera suposição, sem uma síntese conceitual da teoria de ambos, é que se vai dar aso à percepção na inserção de princípios mais elevados na esfera dos Direitos Constitucionais que são os princípios que consagram as garantias Fundamentais da Pessoa Humana. Basta lembrar que tanto Hans Kelsen de origem austríaca, contudo, tendo como base a Escola de Direito Alemã, assim como Schmitt, conferiam situações que elegiam nesses Estados os chamados Tribunais Constitucionais.
Nessa ótica, residia entre ambos o grande debate. De um lado, Schmitt defendia que esse Tribunal Constitucional fosse confiado à vontade do Estado pelo poder executivo, por estar mais próximo do povo; por outro, Kelsen defendia que esse Tribunal Constitucional fosse criado à parte na tentativa de diluir os conflitos normativos resultantes das normas postas de cada Estado.
Nesse curso, há de se destacar no confronto de ideias de ambos, pois, apesar de Kelsen ser um defensor ardente da teoria pura do Direito, de forma paradoxal, sustenta a tese da Constituição de um Tribunal exclusivamente Constitucional e, para Schmitt, teoria vencida, entendia que o executivo haveria de agir de modo interveniente toda vez que houvesse esse conflito de normas. O autor brasileiro Rogério Greco (2009, p. 9; 55) bem sintetiza na sua obra o Direito Penal do Equilíbrio, uma atenção toda especial a Claus Roxin.
Citado já neste trabalho, a pena imposta a Damiens retratada por Foucault, na obra Vigiar e Punir. Destarte, a República Penal não evoluiu tanto nesse espaço de tempo de mais de três séculos, ao mostrar, inclusive, a dificuldade de atrair e respeitar o Direito ao silêncio, que possui o acusado, e evitar a formar um juízo precipitado de valor.
É nesse trilhar que Claus Roxin defende a teoria da intervenção mínima do Estado no Processo Penal. A República Punitiva, no entender desse autor, deva evitar ao máximo a persecução criminal guardando-se para atuar nos delitos que atentem diretamente contra vida. Não com isso tente demonstrar ou sequer argumentar abolitio criminis. Somente entende que aos crimes considerados de menor gravidade, e, especialmente, àqueles que cuja subtração não altere a situação patrimonial de outrem, deva o Estado interceder minimamente, somente para não ver prosperar a ilicitude. Contudo, respeitar as garantias do homem e não do infrator.
Nessa escala, tem-se observado tantas vezes o fato de o agente praticar pequenos ilícitos penais, sofrer uma investida descomunal por parte do Estado, como se realmente estivesse praticado um ato tão atroz que lhe reprima a própria dignidade.
Buscando fazer um breve intervalo para caracterizar o Real Estado da Ampla Defesa, se faz importante reincursionar nos Diplomas Internacionais e, por último, uma referência à Constituição Italiana.
Assim como as Constituições: Portuguesas, Espanhola e Alemã, a Italiana também não reproduz de modo empírico o princípio nemo tenetur se detegere. Apenas faz uma afirmação no Direito à autodefesa, com chancela no art. 24, n.2, do Texto Constitucional, na perspectiva de não colaboração e ainda na presunção de não-culpabilidade. Retornando ao realce da doutrina brasileira, afirma Luis Flávio Borges D’Urso (2003, p.1):
O limite, tênue, que define quando o acusado está no exercício de um direito ou infringindo algum dispositivo legal reside na conduta observada isoladamente, isto é, se o acusado estiver mentindo à autoridade, sobre sua identidade, haverá de responder pelo crime de falsa identidade13 [...]. Predomina o entendimento que o direito de ficar calado não compreende o de mentir sobre sua própria identidade. Outro enfoque que afasta a hipóteses de se constituir direito do acusado a mentira, vem à luz, quando analisamos o crime de auto-acusação falsa14 prevista em nosso ordenamento jurídico para proibir que alguém se auto-atribua, falsamente, a autoria de um crime, transtornando completamente o sistema punitivo, que punirá o inocente e deixará impune o verdadeiro culpado. [...] Dessa forma fica evidente que o acusado criminalmente não tem direito de mentir impunemente, pois mesmo que utilize-se do princípio da ampla defesa, de não produzir prova contrária a si mesmo ou de permanecer calado, jamais estará autorizado a mentir sobre sua identidade ou a se auto-acusar falsamente, respondendo por tais crimes se assim proceder.
Esse Direito de mentir que possui o acusado não pode ser interpretado, nem tampouco recomendado, de modo a permitir que o acusado transfira a outrem, ou tente induzir que a República Penal perca o foco da investigação por conta de um desvio que possa apontar se outro, e não ele o investigado ou autor de determinado delito. Com isso, estar a afirmar que o acusado pode, se assim optar, em não se autoincriminar, ou a se defender dos ilícitos que lhes estão sendo imputados. O que não pode, efetivamente, é incriminar, falsamente, um outro buscando autoproteção, no amplo e ilimitado Direito de não se descobrir, inserto no conteúdo pragmático do princípio nemo tenetur se detegere. Nessa linha, eis o que pondera Maluly:
O interrogado e a testemunha só são perguntados sobre a responsabilidade criminal da pessoa ou pessoas denunciadas. Por conseguinte se, em suas respostas, acusam uma outra, fazem-no por livre vontade e sem qualquer provocação. Indagar-se-á do interrogado o que se relaciona com a acusação. Se negar o crime, quando o tenha praticado, ou o relatar com falsas circunstâncias, não sofrerá por isso. Processado pela justiça, defendeu-se da mesma, muito embora tentando enganá-la. Por mentir em relação à sua pessoa não infringiu lei. Respondeu ao que lhe foi perguntado, procurando somente desvencilhar-se das malhas do processo. Agiu, porém, espontânea e criminosamente, se se aproveitou da pergunta para acusar alguém, cuja inocência conhecia (2006, pp. 57-60).
O real autor de um determinado delito, quando interrogado por uma autoridade, impute ao outro a prática ilícita e por extensão, de causa a uma investigação policial ou ação penal contra essa pessoa.
Nesse curso, se o acusado, porventura negar ou mentir a respeito do fato delituoso a si apontado, não poderá sofrer prejuízo em sua defesa mesmo que no curso da investigação criminal, reste provado a sua culpabilidade.
2.5 A Jurisprudência Brasileira
No Brasil, os Tribunais Superiores: STF e STJ não são uniformes em seus julgamentos em relação à amplitude conceitual do nemo tenetur se detegere. De um lado, há decisões no sentido de que o réu pode, no exercício de sua defesa, mentir. De outro lado, existem decisões advertindo-o que o réu, se mentir, quando de seu interrogatório, sobre sua qualificação e/ou identidade, responderá pelo crime de falsa identidade, tipificado no art. 307, do Código Penal.
2.5.1 Supremo Tribunal Federal
Não é dado olvidar-se de que a persecution criminis, apontado dado indivíduo como autor de um ilícito penal, não raro, o faz com a força atmosférica da República Punitiva. Isso ocorre na maioria das vezes, e especialmente, quando o acusado é pessoa de parcos recursos. Entre o se defender, muito embora, a prática penal impõe ao Estado o dever de nomear defensor dativo quando a Comarca não possui a defensoria pública. Como se vê no julgado que se segue:
Qualquer indivíduo que figure como objeto de procedimentos investigatórios policiais ou que ostente, em juízo penal, a condição jurídica de imputado, tem, dentre as prerrogativas que lhe são constitucionalmente asseguradas, o direito de permanecer calado. Nemo tenetur se detegere. Ninguém pode ser constrangido a confessar a prática de um ilícito penal. O direito de permanecer em silêncio insere-se no alcance concreto da cláusula constitucional do devido processo legal. E nesse direito ao silêncio inclui-se, até mesmo por implicitude, a prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial ou judiciária, a prática da infração penal (STF – 1ª Turma, HC nº 68929-9/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.em 22/10/1991, DJ de 28/08/1992, p. 13453).
O aceitar ou não do defensor dativo demora certo lapso temporal e, nesse particular, o inquérito policial, como sinônimo de mera peça administrativa. Não é a praticidade e, sobremodo, último meio que se lança nesse espaço de tempo, muitas vezes, arranca do acusado confissões às pressas, no sentido, e tão somente, de livrar-se das investidas de quem conduz o inquérito, sendo, na maioria delas, para demonstrar em juízo a sensatez e a capacidade de quem a preside, neste caso, o Delegado.
Nesse ínterim, o acusado que a princípio seria o indiciado, uma vez que se repita o inquérito visa apenas rastrear elementos que possam, de alguma sorte, caracterizar ter sido ele, o indiciado, do cometimento do determinado ilícito penal. Por assim dizer, cumpre a esta primeira parte que é senão o inquérito policial, um apurar, um levantar de dados, que restem incrustados os indícios de autoria e materialidade.
Por esse particular, embora aponte a tendência do pós-positivismo nas regras de um Direito Processual Penal às rédeas da Constituição, na prática, não é. Muito embora se afirme tanto, seja em sede doutrinária ou jurisprudencial, que o inquérito não passe de mera expectativa administrativa e que o Processo não pode, efetivamente, se alimentar desta única fonte, é comum se formar nas peças processuais os indícios de autoria e materialidade fundados apenas no inquérito policial.
Entre esse espaço e um futuro próximo, dificilmente, há de se avistar uma outra perspectiva senão à primeira. Nesse intervalo, hão de surgir as mais turbulentas desconfianças da lisura e, sobretudo, do Direito que assiste ao acusado.
Hábeas corpus. Falsidade ideológica. No caso, a hipótese não diz respeito, propriamente, à falsidade quanto à identidade do réu, mas, sim, ao fato de o então indiciado ter faltado com a verdade quando negou, em inquérito policial que figurava como indiciado, que tivesse assinado termo de declarações anteriores que, assim, não seriam suas. Ora, tendo o indiciado o direito de permanecer calado e até mesmo o de mentir para não auto-incriminar-se com as declarações prestadas, não tinha ele o dever de dizer a verdade, não se enquadrando, pois, sua conduta no tipo previsto no artigo 299 do Código Penal. - “Habeas corpus” deferido, para anular a ação penal por falta de justa causa.” (STF, HC nº 75257-8/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 17/06/1997, DJ de 29/08/1997).
PENAL – PROCESSUAL PENAL. “HABEAS CORPUS”. CRIME DE ROUBO: CONSUMAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. SEQUESTRO. I. – Crime de roubo: consuma-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, consegue retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima. II. – Tipifica o crime de falsa identidade o fato de o agente, ao ser preso, identificar-se com nome falso, com o objetivo de esconder seus maus antecedentes. III. – Crime de seqüestro não caracterizado. IV. – Extensão ao co-réu dos efeitos do julgamento, no que toca ao crime de seqüestro. V – H.C. deferido em parte (STF – 2ª T., HC nº 72377/SP – Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 23/05/1995, DJ de 30/06/1995, p. 20409).
Neste leque contraditório, convém assinalar, de modo desapegado, embora o respeito obstinado que se tem a essas grandes mentes, convém deles desatrelados numa concepção valorativa asseguradora ao ser humano no Processo Penal, utilizar os meios que lhes estão disponíveis, de modo a fazer uso desse Direito de se autodefender na plenitude inalcançável da razão humana, a sentir ao indivíduo valer-se de tudo isso no sentido de não se autoincriminar.
Esse é o fluxo do princípio nemo tenetur se detegere, ou seja, de que o indivíduo dado a sua condição de acusado, não seja medido em razão de suas saídas como forma de exercitar a plenitude de sua defesa. Portanto, uma República Penal, cursionada pelo modelo democrático e pleno de Direito, é que possui o dever de investigar, provar, punir, sem se afastar de sua polidez de respeitar o indivíduo na sua intrínseca personalidade. Por isso, ele, o Estado, a quem incumbe o dever de provar, não o fizer, é, sobretudo, inaceitável tentar arrancar do próprio indivíduo afirmações que depõem contra a sua liberdade, já que esta República não tivera competência de provar.
2.5.2 Superior Tribunal de Justiça
Pelo julgado que se segue, percebe-se que o entendimento sobre o ordenamento jurídico pátrio penal não define o crime em si, apenas descreve a sua tipologia em suas formas particulares e decorre sobre os seus diversos elementos subjetivos circunstanciais.
A Constituição de 1988 (art. 5º, inc. LV), à semelhança de outras Cartas e Constituições nacionais, não trouxe nenhuma novidade no tocante ao princípio do contraditório em sede penal, que se incrusta em princípio maior: o da ampla defesa. A própria Constituição (art. 5º, inc. LXIII), por influência remota do direito constitucional norte-americano (“Miranda v. Arizona”, 1966), enseja ao preso o direito de saber de seus direitos, inclusive o de ficar em silêncio e, por extensão, até falsear os fatos” (STJ – RHC 3012/MG – 6ª Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJU 11.10.93, p. 21344).
Na edificação das teorias jurídicas sobre o delito, vai resplandecer a partir da dogmática alemã um trinômio elementar estrutural e interdependente de toda conduta punível: tipicidade, antijuricidade e culpabilidade. Essa trilogia conceitual corresponde a uma dupla perspectiva conforme recai sobre o crime ou sobre o seu autor. E em nada altera os fundamentos da reprovação penal, uma vez que aqueles três elementos são características comuns a todo delito e estão considerados em sua forma unitária. Esses são os dizeres de Gilberto Callado de Oliveira (p.35, 2011), em conformidade com a jurisprudência do STJ, como se segue:
Nesta concepção do delito no que pertine à culpabilidade, segundo o modelo ideológico garantista, não tem sua nascente no pecado mais de uma opção que o homem faz de sua própria conduta, quando mergulhado em contraste com as normas técnicas de controle social. Convém decerto fazer uma incursão no sentido de atinar como está incidindo a questão do Direito ao silêncio o Superior Tribunal de Justiça. Entende esta Corte: O Direito de permanecer em silêncio, assegurado no inciso LXIII do art. 5º da CRFB, assim como o art. 186 do CPP, ao traduzir o Direito que possui o acusado de permanecer calado e cujo silêncio não poderá decotar a sua defesa. E mais, não só permanecer calado, inclusive mentir para sua defesa. Eis o que explana o Relator Ministro Adhemar Maciel: “O Direito de ficar em silêncio e, por extensão, até falsear os fatos” (STJ – RHC 3012/MG – 6ª Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJU 11.10.93, p.21344).
Mesmo contrariando os mais renomados juristas no sentido de que é dado ao acusado o Direito de permanecer em silêncio, porém o de não, silenciar no que pértine à sua identificação: Penal. REsp. Falsa identidade. Não configuração. Autodefesa. Entendimento do acórdão recorrido em consonância com posicionamento reiterado desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. Recurso não conhecido. I – Esta Corte possui entendimento reiterado no sentido de que não comete o delito previsto no art. 307 do Código Penal o réu que, diante da autoridade policial, se atribui falsa identidade, em atitude de autodefesa, porque amparado pela garantia constitucional de permanecer calado, ex vi do art. 5º, LXVIII, da CF/88. Precedentes. II – Incidência da Súmula nº 83/STJ. III – Recurso não conhecido” (STJ, 5ª Turma, REsp 818748/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 17/08/2006, p. 323). No mesmo sentido: STJ, 6ª Turma, HC 35309/RJ, Rel. Min. Paulo Medina, j. 06/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 304.)
A atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial, pelo preso em flagrante, com o objetivo de ocultar-lhe seus antecedentes penais, não configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal, por constituir hipótese e autodefesa, amparado pelo artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Precedentes do STJ (STJ, 6ª Turma, EDcl no HC 21202/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 09/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 374).
Nesse oriente, ao longo do tempo, a doutrina separatista de Direito e moral. A partir da dogmática jus positivista, traçou-se uma estrita legalidade entre a culpabilidade e a não culpabilidade. Nesse circuito, é determinante o detectar da culpa no aspecto moral. O fator mandamental ético será o de obedecer a Lei, pelo respeito desta Lei.
Um garantismo penal consequente chega à conclusão de que, em toda a estrutura normativa de proibições e sanções, não pode haver ação alguma que por si mesma, independentemente da lei positiva, seja antijurídica. Não há crimes naturais nem sanções indispensáveis. A identidade odontológica do malum in se desvanece como “as diversas correntes católicas e espiritualistas do moralismo e do pedagogismo penal”, dando lugar “a uma simples figura de qualificação jurídica”. O crime não reflete nenhuma qualificação moral, sociológica ou antropológica: “Não designa o que se estima contrário à moral ou aos interesses da nação ou às exigências de defesa da sociedade ou do Estado, mas somente os fatos que as leis, mediante prévia cominação, consideram expressamente puníveis”. Qualquer modelo punitivo que veja o crime como um ato imoral é uma perversão antigarantista, já que as criminalizações e punições previstas em lei correspondem estritamente a técnicas de garantia independentemente da condição de autor. “O que confere relevância penal não é a verdade, a justiça, a moral, nem a natureza, mas somente o que, com autoridade, diz a lei”, afirma o soberano autor do garantismo” (p. 136 - 137).
Essa pretensa teoria há de ceder espaço sim à interpretação mais abrangente, sobretudo, no que concerne ao indivíduo. Não necessariamente ao indivíduo delinquente, contudo àquele que se presume a ver delinquido.
Nessa circunferência imaginária entre o fazer e o não fazer, entre o ser e o não ser, ergue-se uma muralha, de cuja penetração não pode romper essa tênue imaginação da República Penal. Tem-se num Estado pleno de Direito a quem se atribui responsabilidade ímpar este sujeito é o Estado e tem o dever de investigar e fazer isso muito bem, de modo a não sair alvejando para todos os lados sem, pelo menos, um limiar, um ponto a seguir, um farol, que lhes aponte o mínimo de probabilidade de na persecução penal, trazer de pronto e a hora, indícios veementes de autoria e materialidade, de modo a ensejar com posse desses requisitos a Ação Penal.
Na liturgia desses requisitos, aparentemente, representam meros requisitos e nada mais, não os são. Ao contrário, é necessário um debruçar, deveras apurado, como forma de elementar plausibilidade de que o indivíduo pode ser considerado culpado. Nesse estreito corredor, não há de se apartar jamais de polir esses requisitos, clareando-os de tal ordem, a ponto de se deixar seguir pelo foco reluzente desses elementos. Do contrário à Ação Penal, nasce defeituosa, podendo padecer com os vícios, não raros, da insana tentativa da República em buscar punir, sem se dar conta de verificar no curso dessa ação o grau que aponte a culpabilidade ou não do indivíduo. Não se pode permitir um Estado pleno de Direito um seguir sempre, sem, contudo, deter-se por estações nos cuidados que se deve ter no curso do Processo Penal.
É justamente fundado nesse receio que a defesa há de atentar-se cuidadosamente, para não permitir desenfrear as investidas da República. Há outro elemento de importante discussão, que passa desapercebido aos olhares dos grandes penalistas, sobretudo, àqueles incumbidos de patrocinar a defesa do indivíduo face ao Estado. Há um arcabouço imensurável de contenção das investidas da República Punitiva. Este arcabouço é senão as garantias insculpidas no ordenamento jurídico maior. Ditas garantias nascem já no art. 1º, inciso III da CRFB, ou seja, é uma cláusula geral de Direitos e garantias fundamentais, inerentes à pessoa que é senão sua dignidade.
Deveras é embaraçoso falar nessas garantias, se não as enriquecer com o contido no elenco do art. 5º deste mesmo diploma. Nessa percepção de valores, existe um interstício mínimo entre a primeira e a segunda fase do julgamento do indivíduo, residente da denominação “in dubio pro societate”. Este princípio reluz de tal ordem um tênue espaço entre a primeira e a segunda fase, a que será submetido o indivíduo, dos delitos cometidos contra a pessoa devidamente arguidos no art. 121 e seguintes do Código Penal. Se o Processo ainda não restou claro para o juiz monocrático, este, após a instrução processual, formará a sentença de pronúncia, e sua transferência passará agora a um colegiado, a um conselho sentencial.
2.6 Aspectos Processuais
Nessa percepção, a ampla defesa é um composto de garantias à pessoa, sem precedentes. A República Punitiva apegada à fragilidade do sistema investigativo brasileiro, por vezes, faz insistir nos atalhos que conduzem o desvendar de um determinado ilícito penal. Isso porque reside um facilitador quando consegue arrancar do agente a confissão. Talvez, por isso, ainda não tenha sido abolido o sistema penal brasileiro, como meio de prova a confissão do acusado. Este tem sido, ao longo dos anos, o caminho mais curto, e que, por muito tempo, a confissão do acusado, fora eleita a rainha das provas. De tal comodidade, isentava-se a República Punitiva de investir uma investigação árdua, detalhada, capaz de atrair para os autos do processo um outro princípio, igualmente nobre, ou seja, o princípio da verdade real. Nem sempre real, porquanto a confissão do acusado sabe-se lá de que modo, dava por encerrada, qualquer outro meio de busca de provas mais cientificas, próximas da efetiva realidade.
O princípio da verdade real nunca fora, e longe de ser, uma verdade absoluta. Portanto, o conceito de verdade absoluta é extremamente relativo. Tudo vai derivar a quem interessa essa verdade tida como “absoluta”. Se ao Estado Penal ou ao indivíduo, porquanto, à luz dessa verdade é que o processo toma curso.
Com fincas no Ordenamento Penal e Processual Penal, é que deve haver um olhar um tanto mais aguçado, e, a partir daí, estabelecer uma linha real de investigação. O que não é permitido, e nisso não há como negar, é a usurpação, a mutilação e a amputação dessas garantias no Processo Penal.
O art. 186, parágrafo único, do Código de Processo Penal do Brasil, expressa claramente o Direito que o acusado tem de permanecer em silêncio, sem que ele possa denotar prejuízo à sua defesa.
Inobstante, nunca é demais repetir que o inciso LXIII, do art. 5º, da CRFB/88, traz, de forma inequívoca, esse dispositivo, inserido no nosso ordenamento maior, em razão de que a Constituição é uma lei pura, que se distingue das demais em razão de sua supremacia jurídica. Não por isso, mas, muito além, esse dispositivo é tão impactante e faz incidir o respeito aos demais ordenamentos outros, o que, todavia, não foi suficiente para recepcioná-lo de logo, porquanto, o já citado parágrafo único do art. 186 do Código de Processo Penal, que somente fora alterado em 2003, esteve, ao longo de uma década e meia, eivado de inconstitucionalidades.
Seguindo por esse circuito, e para além dele, se faz deveras primordial atentar-se ao que preleciona grandes doutrinadores do Direito Penal e Processual Penal. Seguindo esse mesmo horizonte, é importante reluzir que o Direito ao silêncio é apenas uma manifestação de uma garantia muito maior, esculpida no princípio nemo tenetur se detegere, segundo qual o sujeito passivo aqui traduzido no acusado de determinada ação penal, não poder sofrer qualquer prejuízo, qualquer mutilação, nem mesmo permitir que tais garantias sejam diluídas, e que não possam, por nenhum motivo, sofrer prejuízo jurídico por omitir-se de colaborar em uma atividade probatória da acusação ou por exercer seu direito de silêncio quando interrogado. Afirmar ainda que da sua prerrogativa de permanecer em silêncio não pode efetivamente nascer nenhuma presunção de culpabilidade ou qualquer tipo de prejuízo jurídico ao imputado.
É necessário rebuscar sempre ainda que insistente possa ser, caracterizar os Direitos Humanos e Fundamentais. Ser este um conjunto institucionalizado de Direitos e garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana de modo a ser definido como Direitos humanos fundamentais. Assim, inúmeros e diferenciados são os conceitos de direitos humanos fundamentais.
De resto, entende-se que o realce desses direitos relaciona-se diretamente com a garantia de não ingerência do Estado na esfera individual e a consagração da dignidade humana, tendo um universal reconhecimento por parte da maioria dos Estados, seja em nível constitucional, ou infraconstitucional. Cristina Di Gesu, numa das mais importantes obras que efetivamente sintetizam a marcha processual, no que pertine às provas produzidas, quer na fase do inquérito, quer na fase processual, sintetiza no seu trabalho Prova Penal & Falsas Memórias (2010) o direito que cada acusado tem de permanecer em silêncio, e que esse silêncio não possa causar-lhe prejuízo, ou formar uma convicção desvalorada por parte do Estado.
O direito de silêncio está expressamente previsto no art. 8.2, g da convenção Americana dos Direitos do Homem, onde se pode ler que toda pessoa – presa ou em liberdade – tem o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma nem a declarar-se culpada; no art. 5, LXIII, da Constituição (o preso será informado dos seus direitos, entre os quais, os de permanecer calado), bem como no art. 186 do Código de Processo Penal. (p. 46)
Disso decorre sua disponibilidade. A renunciabilidade diz respeito tão somente à decisão do réu em aproveitar a chance processual de forma positiva ou negativa, sem eximir o órgão jurisdicional de seu dever de oportunizar o exercício da autodefesa. Em termos de principiologia da prova, abordagem da garantia da ampla defesa é fundamental. Entretanto, considerando o estudo do presente trabalho ser focado nas falsas memórias, a autodefesa não assume especial relevância. O fato de o imputado poder mentir, poder falar ou calar, suprime qualquer possibilidade de apreciação de formação de falsas memórias em relação a ele. Até mesmo porque consideramos o interrogatório não como ato de prova, mas sim como meio de exercício de defesa pessoal. Por fim apreciaremos o principio do livre convencimento motivado. (p. 51).
Por conta dessa valoração precipitada a que, em regra, os operadores estão a serviço do Estado, ou seja, da República Punitiva, enveredam na grande maioria pelos atalhos diluentes das garantias processuais, dispensadas no nosso ordenamento jurídico-penal, em razão do desconhecimento. E mais, em razão de se ter uma Carta Constitucional com apenas vinte e poucos anos de existência. Aqui se registre o desapontamento daqueles que atuam no polo defensivo. Ladeado ao sujeito passivo (o acusado), em regra, são profissionais do Direito habituados no caso dos crimes contra a vida a uma farta oratória, comum a esses tribunos, contudo, não afeitos aos princípios régios constitucionais que são violados, constantemente, na processualística brasileira. Diante disso, arriscam tudo numa cartada como se estivessem numa mesa de poker. Ou melhor, confiam de tal ordem no curriculum que ostentam. O que vale dizer, confiam no poder de persuasão que, geralmente, acompanham alguns por dom natural, outros pela prática reiterada do exercício de que devam convencer um conselho sentencial, através de suas oratórias.
Ademais, geralmente nas pequenas metrópoles, esses ditos profissionais do Direito, exímios oradores contam com admiradores das mais diversas classes sociais. Quando da escolha deste conselho sentencial, é provável, é quase certo que muitos desses hão de elencar a lista dos chamados cidadãos da sociedade de ilibada conduta e acervo moral inesgotável.
Todavia, com o advento constitucional de 1988, o processo penal brasileiro começou a tomar novos contornos, não na velocidade que se fazia imperante, a título de respeito a uma nova ordem constitucional posta. Aqui não convém adentrar na questão meritória. Tão somente na sinopse fática a que se quer chegar. Para disso, afirmar que o processo penal aqueles que atentam contra a vida, especialmente, na sua segunda fase, não conhecer o profissional da principiologia constitucional, especialmente, no que tange aos princípios fundamentais consagrados à pessoa humana. É neste ponto que deva residir um amplo conhecimento. Não se deva confundir conhecimento de princípios régios com os apelos de caridade que são feitos, na maioria das vezes, na sessão plenária do Tribunal do Júri. Muito embora essa liberdade de expressão é a que serve de fator primordial para o convencimento do conselho sentencial, seria de tal ordem aditada para melhor conferir esse convencimento, se decotado ao máximo a força atmosférica como, na grande maioria das vezes, é exercida pelo Estado acusador, ou seja, pelo Ministério Público.
É necessário ponderar sobremaneira e repisar até o exaurimento os valores que devem ser defendidos por via paralela dessas ditas garantias, como se defende o acusado em si. Nunca é demais relatar que, aos que veem num indivíduo delinquente uma coisa, em face de ter cometido um delito. E em extensão a isso, resta comprometida toda uma trajetória, a exemplo dos crimes de homicídio e tentativa, que a mera conduta tem o condão de produzir no seio da sociedade uma aversão quase que desregrada do delinquente. Esse juízo de valor que o senso comum costuma dar a esses delitos faz desabar sobre aquele que o cometeu uma verdadeira tempestade de insinuações, acusações e toda sorte de malefícios. É preciso partir da lógica de que o ordenamento penal, no Art. 59 do CP, confere ao juiz na fixação da pena base os requisitos contidos nesse diploma legal. Justamente como forma de sofrear um possível sentimento obscuro do julgador, o que não se pode descartar, porquanto humano logo, factível de erro. É neste contrapeso que esse instituto buscou condensar a fixação dessa pena. Por isso, está-se a afirmar que esse freio, esse estanque, lamentavelmente, não pode ocorrer no seio do senso comum, porquanto, alvoroçado que é, forma de imediato suas convicções a respeito de determinado delito. Aqui vale referenciar o caso do goleiro Bruno. Apenas a título de hipótese ilustrativa. Há, por força da mídia, uma convicção plena e, assim, a República Punitiva entendeu de que efetivamente o goleiro Bruno tenha sido coautor do homicídio de Eliza Samudio. A interrogação a ser feita é se restou provado que realmente ocorrera o assassinato da ex-namorada do goleiro.
A doutrina pátria é unânime em afirmar que a ação penal pública incondicionada carece para o seu nascedouro de indícios veementes de autoria e materialidade, a falta de um desses pressupostos, se não inibir de toda a ação, faz com que ela nasça deficiente. Por assim, dizer órfã de uma das peças que lhe dá escopo, que lhe fornece guarida para a certeza de que a ação não traduz o mais ínfimo resquício de dúvida. Para que a ação tenha eficácia, é imprescindível que reúna esses dois elementos: autoria e materialidade. Este último, nos crimes de homicídio, que deixam vestígios, tem-se o exame de corpo de delito. Que é o exame cadavérico que se faz para ter a certeza e, a partir daí, certificar a causa mortis. Via de regra deve ser subscrita por peritos legistas com formação superior, em um mínimo de dois.
Assim, revolvendo o caso de Eliza Samudio, a polícia judiciária não conseguiu localizar o corpo para, a partir daí, ofertar aos autos processuais laudo pericial dando conta da sua efetiva causa mortis. Note que, neste processo, foi apenas auferida uma prova pericial técnica sob respingos de sangue que restaram da suposta vítima. Esse elemento pericial coletado tem o condão de afastar a necessidade do exame de corpo de delito, o que por certo se configuraria a materialidade? Para os operadores do Direito, para o Estado acusação e, por que não afirmar, para a própria sociedade, sim, é possível sim. Contudo, a título de ilustração ao fim a que se quer propor, e como recomenda a boa doutrina, um homem não pode ser condenado por meras conjecturas, mas pela certeza cristalizada, ou seja, o ilícito deve restar límpido de tal maneira que não paire o menor resquício de dúvida quanto a sua materialidade. Daí, porque o temor de se condenar alguém sem a limpidez de um dos requisitos de essência da ação que culmina no processo, julgamento e na condenação do acusado, ante a presença de um dos elementos indispensáveis para que se dê concretude à tipificação imputada, ou seja, à materialidade, no caso do goleiro Bruno, a República punitiva não conseguiu trazer aos autos esse elemento indispensável.
Com verossimilhança a essa narrativa do goleiro Bruno, houve um caso que tomou repercussão nacional, um antigo caso ocorrido no Estado de Minas Gerais envolvendo os irmãos Naves. Relatado à época de que os irmãos Naves haviam assassinado um desafeto concorrencial do ramo atacadista de cereais. Ambos foram processados, julgados e condenados, tendo, inclusive, um dos irmãos apenados, não suportando os horrores do cárcere por lá mesmo falecido. Depois de cumprida a pena, o outro irmão remanescente, posto em liberdade, já com idade avantajada sem a força necessária física e espiritual para prosseguir sua vida. Restara provado, portanto, que em um dia qualquer de repente, como num passe de mágica, reaparece nada mais, nada menos, do que a suposta vítima que havia sido assassinada pelos irmãos Naves. Como dissera Kant, nos reinos dos fins há um preço e uma dignidade. Há preço que valha a vida e a liberdade do ser humano? Que indenização poderia custar ao Estado tendo sido responsável por um erro processual penal que culminou na morte de um dos irmãos Naves e na retirada da liberdade do outro, porque o que restou do segundo não passou de uma sobrevida?
Eis, repita-se, mais uma vez, o temor que se tem quando um acusado é, inclusive, condenado sem que a este seja assegurado o direito de amplíssima defesa, independente do que, às vezes, se escuda o Poder Judiciário sob o disfarce de clamor social, ou, ainda, quando o crime é supostamente atribuído a um agente de reflexos públicos como fora o caso do goleiro Bruno. Cabe, mais uma vez, inquirir: onde estaria o abuso da defesa técnica ao insistir que faltava um dos requisitos essenciais no processo do assassinato de Eliza Samudio, que era a materialidade, ou seja, o corpo? Por isso que os crimes de homicídio, por se tratarem de crime material, deixam vestígios no mundo real, diferentemente dos crimes formais ou de mera conduta.
Nesse oriente, de sábia explanação, aduz Távora (2012):
O art. 5º, LIV da CF assegura quê “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o Devido Processo Legal”. O Devido Processo Legal é o estabelecido em Lei, devendo traduzir-se em sinônimo de garantia, atendendo assim aos ditames constitucionais. Com isto, consagra-se a necessidade do processo tipificado, sem a supressão e/ou desvirtuamento dos atos essenciais. Em se tratando da aplicação da sansão penal, é necessário que a reprimenda pretendida seja submetida ao crivo do poder judiciário, pois nulla poena sine judicion. Mais não é só. A pretensão punitiva deve desfazer-se dentro de um procedimento regular, perante a autoridade competente, tendo por alicerce provas validamente colhidas, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
Ver-se que esse princípio assume dentro do Processo Penal uma importância transcendental e que delineia todo o seu agir, limitando inclusive a atividade do legislador”, por quanto “deve a Lei se conformar com os direitos e garantias fundamentais do cidadão”, não havendo para a interferência no núcleo protetivo da liberdade do agente, sem que sejam observados os condicionamentos e limites que decorrem da cláusula do processo Due Process of Law.
O Devido Processo Legal deve ser analisado em duas perspectivas: a primeira, processual que assegura a tutela dos bens jurídicos por meio do devido procedimento (procedural due process), a segunda, material, reclama, no campo da aplicação e elaboração normativa, uma atuação substancialmente adequada correta, razoável (substantive do process of Law).
Portanto, não basta só a boa preleção das normas. É também imprescindível um adequado instrumento para a sua aplicação, isto é o processo jurisdicional (judical process). Como indica Tucci, o substantivo do Process of Law “o instrumental hábil à determinação exegética das preceituações disciplinadoras dos relacionamentos jurídicos entre os membros da comunidade”. O processo deve ser instrumento de garantia contra os excessos do Estado, visto como ferramenta de implementação da Constituição Federal, como garantia suprema do Jus Libertatis (p. 69).
Esse direito de punir que possui a República é de tal ordem tão voraz, às vezes, usurpador das garantias, e aqui não pode ainda que no empolgar das dissertações deixar passar sem reiteradas citações, o que toca o princípio nemo tenetur se detegere (ninguém está obrigado a se revelar). É nesse passo do senso comum de que “quem cala consente”, que se forma de pronto uma opinião, seja em razão dos delitos de repercussão nacional veiculados pela imprensa de modo geral, sejam aqueles praticados a rigor e com maior intensidade nos velhos rincões empoeirados dos interiores de um Estado de dimensão continental, como é o caso do Brasil. Nesses lendários rincões, é que essas garantias são frequentemente mutiladas.
De um lado vai se deparar, todavia, com grandes profissionais que atuam como defensores do direito processual penal. São, a rigor, profissionais que, em razão de suas famas, cobram honorários elevados, nunca podendo ser contratados pelos que praticam esses delitos. A rigor, são nomeados advogados dativos ou a defensoria pública em si. Daí, compreender o curso desse rio em que desaguará, certamente, no oceano de desaventos para o indivíduo delinquente.
Nunca é demais repetir que o Estado punitivo se reveste de uma força atômica, e possui todos os meios diligentes de coletar provas contra aquele que efetivamente delinquiu. Nesse particular, frise-se que a República Penal se reveste: da República investigativa, do jus acusationi e do jus puniendi; enquanto que o acusado apenas se defende desse arsenal atômico. É nisso que reside a principiologia extensiva da ampla defesa. Se essa defesa evidenciar-se comprometida, em razão da ausência de técnica, seja porque o acusado não possui os devidos recursos para ter ao seu lado um profissional de notável saber jurídico e competência comprovada nos certames do processo penal, toda sua linha extensiva de garantias, declinará em razão da ineficiência técnica de sua defesa.
O grande conjunto doutrinário brasileiro é unânime na afirmativa de que cabe ao juiz, como antes narrado, o dever de nomear defensor dativo se o elemento que está sendo acusado não possuir os meios de constituir. Pondere-se, entretanto, que, de forma utópica, a doutrina traz que este defensor deve ter um conhecimento técnico para defender o acusado. Essa é uma mera utopia, porquanto se presencia nos corredores de os Tribunais profissionais serem tomados quase que de assalto, para acompanharem determinados acusados na condução processual, sem sequer conhecer, saber o que realmente move determinado processo. Neste particular, resta confirmar os receios de que, analisada por esta ótica, a defesa estará, evidentemente, comprometida.
Convém citar o que ensina Gilberto Callado de Oliveira (2011), na sua célebre obra GARANTISMO E BARBÁRIE – A FACE OCULTA DO GARANTISMO PENAL:
Para a filosofia garantista, a finalidade do direito penal, como direito sancionador, é precisamente proteger os direitos fundamentais, não daquelas pessoas que tiverem seus direitos violados ou ameaçados pelo crime, mas dos violadores ou ameaçadores desses direitos, que, de vilões, se transfiguram por quimeras argumentativas em oprimidos, em mártires do despotismo processual (p. 143)
Os vícios que conduzem o processo penal são tão intensos, são tão expostos, não fosse a realidade dos penalistas, quer em correntes doutrinárias favoráveis à ampla defesa e, por conseguinte, ao rol das garantias que dela decorrem, leviano pensar que um sujeito figurando no polo passivo duma demanda penal, nos instantes agônicos que antecedem a sua, algumas vezes, condenação, ser taxado como ator, ser taxado como mártir ou qualquer coisa que pareça similar, é, deveras, deplorável. Por óbvio que a visualização que se está a discorrer é o da ampla defesa.
Contudo, em nenhum momento, é dado olvidar que aqueles que padecem ou padeceram de lesões, sobretudo, quando de ditas lesões restar a prática descrita no Art. 121 do Código Penal, porquanto chancelada está a tutela inenarrável que deva a República exercer. Contudo, no outro polo, resta também um sujeito de direitos. Não se pretende jamais pleitear, ainda que nos devaneios de uma sociedade equânime a abolição do direito de punir, o que se pretende, e, desse modo, não é dado arredar, é de que dita punição não possa estar acima das garantias do indivíduo que, aliás, são garantias eternas.
Tanto é assim, não só a Carta Política Brasileira de 1988, no rico acervo do seu Art. 5º, assim como demonstrado fora ao longo desse trabalho, outros diplomas de igual riqueza a nível internacional.
3 TRIBUNAL DO JÚRI
Antes de adentrar na especificidade da competência dos juízes leigos, de julgar os crimes praticados contra a vida, tipificados no art. 121 e seguintes do Código Penal, se faz imperativo tecer algumas considerações, a respeito do juízo de admissibilidade da acusação, inserida na decisão de pronúncia. Esta exige, todavia, prova segura, arraigada em indícios firmes acerca da autoria e materialidade do crime. Entretanto, para se remeter ao Tribunal do Júri, o caso em si, submetendo-o à livre apreciação dos jurados, sem que de concreto reste um propósito fundamental para o veredito proferido, é essencial, ao menos, garantir a prova certa da materialidade.
Razão que enseja reafirmar a importância de demonstrar já na pronúncia a certeza e a concretude do delito é garantia indispensável para um julgamento justo. Não é dado olvidar-se nesse sentido, pois representa a própria segurança contra erro judiciário insanável. Debater-se na busca da culpa do acusado em seção plenária do Júri é o que se espera da instituição popular, se o acusado merece ser condenado ou absolvido pelo fato concreto ocorrido é missão do conselho sentencial.
De resto, transferir a esse conselho sentencial atribuição de verificar a materialidade do crime, é um despropósito inconcebível. Os crimes dolosos contra a vida, de competência constitucional do Tribunal do Júri, a rigor, são infrações que deixam vestígios, e na dicção do art. 158 do Código de Processo Penal, devem, nesse mesmo rigor, ter a materialidade formada por exame pericial, com raríssimas exceções a da prova indireta, formada por meio de testemunhas. Com isso, está a se dizer, não cabe aos juízes leigos, formar análise de casos em dúvida, sem que antes o poder judiciário tenha afirmado a prova da existência do ilícito.
Na dicção do art. 413 do Código de Processo Penal, há de caber a pronúncia quando houver o convencimento por parte do juiz da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria. Há de se observar, entretanto, que esse convencimento não é subjetivo, nem tampouco íntimo, devendo estar arraigado em provas existentes dos autos. Neste diapasão, com fincas nos precisos termos da Lei, o juiz carece, sobretudo, certificar-se da materialidade certa e segura do seu campo de convencimento motivado, sem transferir esta responsabilidade nos casos duvidosos aos jurados sem que os fatos restem evidentes.
Imperante é do juízo de admissibilidade a segurança necessária para proclamar que determinado Processo possa ser julgado pelo Tribunal do Júri, pois o fato existe e reside razoável dúvida acerca da culpa do réu. Logo, qualquer decisão será justa se condenatória ou absolutória, dependendo da valoração feita pelo conselho sentencial.
Assiste a uma simples razão, se o magistrado tem sérias dúvidas da existência do delito, repassar o caso a júri significa transferir uma responsabilidade e, sobremodo, propiciar a consagração de um erro anunciado. Um equívoco a ser evitado pela força do filtro exercitado pela prolação da decisão de pronúncia.
Mister se faz remeter a prova da materialidade admitindo-se apenas indícios de autoria. O que, efetivamente, contraria o princípio regente do Devido Processo Legal.
Eis a despeito disso uma reprodução do RE 540.999-6/SP. Rel: Min. Menezes Direito. Recorrente: N.C. – advogado: L.R.S. Recorrido: M.P.E.S.P.
Ementa: Penal. Processual Penal. Procedimento dos crimes da competência do Júri. Idicium acusationis. In dúbio pro societate. Sentença de pronúncia. Instrução probatória. Juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Presunção de inocência. Precedentes da Suprema Corte. 1. No procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a decisão judicial proferida ao fim da fase de instrução deve estar fundada no exame das provas presentes nos autos. 2. Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova de materialidade do delito, mas basta, nos termos do art. 408 do CPP, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência. 5. A ofensa que se alega aos arts. 5º, XXXV e LIV e 93, IX, da CF (princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais) se existisse, seria reflexa ou indireta e, por isso, não tem passagem no recurso extraordinário. 6. A alegação de que a prova testemunhal teria sido cooptada pela assistência da acusação esbarra na Súmula 279 do STF. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Com base na jurisprudência encimada, é de todo importante entender e destacar, sobretudo, o controle judiciário sobre a admissibilidade da acusação. Carece de firmeza e fundamentação. De outro modo, tornar-se-ia inadequado transferir para o Tribunal do júri sem uma viabilidade plausível na possibilidade de haver condenação do acusado.
A única dúvida possível, e, portanto, razoável, é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação.
Levando em consideração ser a sentença de pronúncia, em última análise, que a causa seja submetida ao seu juízo natural, e, além disso, haja um pressuposto de valoração dos elementos de prova coligados aos autos, de modo a admitir de uma vez por todas o centenário brocado latino in dubio pro societate. A par disso, é preciso ponderar, sobretudo, ser a materialidade do crime de homicídio provada pelo exame necroscópico. Com isso, está a se dizer, tem que restar claro feito a luz do dia de que, efetivamente, resta como indícios uma materialidade. Há quem sustente, todavia, não haver necessidade de o juiz singular em si tratando de processos dos crimes de competência do Tribunal do Júri apurar tão profundamente análises das provas. Forte na convicção de que esses elementos essenciais à produção da nascente da Ação Penal, indícios veementes de autoria e materialidade bastem para a decisão de pronúncia. Logo, prescinde a existência de prova incontestável.
Presentes os indícios veementes de autoria e materialidade, “conditio sine qua non” para efetivação condutora da pronúncia, resta, portanto, agora em sua segunda fase que o Tribunal formado pelos juízes leigos, ao final, deem o seu veredito, absolvendo ou condenando o acusado.
Inolvidável se faz, deveras compreender o mandamento que compõe o Tribunal do Júri, é, extremamente, complexo. Dispõe o art. 411, § 9º, uma vez encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou fará em 10 (dez) dias, ordenando que os autos para isso lhes sejam conclusos. Daí, advêm ao juiz quatro opções processuais: a decisão interlocutória de pronúncia ou impronúncia, da desclassificação e da absolvição sumária.
Esposado no entendimento acima descrito, resta apenas aguardar essa referida decisão. Resta pacificado o entendimento mais recente do STF, tendo como relator o Min. Menezes Direito, ao proferir acórdão nesta mesma direção, declarando de modo escancarado.
A prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, exige-se prova da materialidade do delito, mas basta nos termos do art. 408 do CPP {atual art.413 do CPP}, que haja indícios de sua autoria. (NUCCI; 2012, 798)
A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o defeito de fundamentação na sentença de pronúncia gera nulidade absoluta, passivo de anulação, sob pena da afronta aos princípios da soberania dos vereditos.
Uma vez formado o conselho de sentença e exortada a liturgia solene do Tribunal do Júri, os jurados deverão receber cópias da pronúncia e do relatório do Processo, permitindo-se a eles inclusive, o manuseio dos autos do processo-crime e o pedido ao orador para que indique as folhas do autos em que se encontra a peça por ele lida ou citada. Inteligência do HC 103.037.
É mister impor dentro de uma liturgia mais serena e apurada dos fatos e dos atos que ensejaram a decisão do acusado para o Tribunal do Júri, açoita, ainda, outras garantias suplementares que podem assistir ao juiz à faculdade de reconhecer atenuantes genéricas atinentes à confissão espontânea, ainda que não tenha sido debatido em Plenário, quer em razão da sua natureza objetiva, quer em homenagem ao predicado da amplitude da defesa, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, “a”, da CRFB.
O juiz tem o dever de fundamentar em obediência ao que dispõe o inciso IX do art. 93 da CRFB. Fundamento este restrito à comprovação da materialidade do fato delitivo e indícios veementes de sua autoria. Tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligados hão de ser sopesados pelo próprio conselho de sentença, que é soberano em si tratando de crimes dolosos contra a vida. Não compete ao juiz sobre o primado de ofensa a amplitude de a defesa elencar na sentença de pronúncia ainda que por leves nuanças, ou por insinuações ainda que esguias. Mas tão somente e nada além, da prova da materialidade e dos indícios veementes de autoria. O que deve ser feito numa linguagem sóbria, equilibrada, e devidamente fundamentada, repita-se. Há de se esperar, sobremodo, que esse juízo pronunciante seja externado em linguagem de tal ordem calcada e tão somente nesses aspectos referidos. Sob pena de influenciar na formação de um convencimento antecipado por parte do Conselho de Sentença. Este dito Conselho de Sentença e, para isso, é deveras constituído ao longo de séculos da imparcialidade e sensatez fatores primordiais de um veredito justo de modo a desfrutar com total independência no exercício de seu múnus constitucional.
Há de se configurar, portanto, não ser a integralidade hermenêutica constante do inciso XXXVIII do art. 5º da CRFB que atribui a soberania do veredito. Essa soberania não é de toda absoluta, submetendo-se ao controle do juízo ad quem, de modo a acolher a inteligência do art. 593, inciso III, “d”, do CPP. Ou seja, conclusão manifestamente contrária à prova produzida durante a instrução criminal configura error in procedendo, a ensejar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Não há afronta à norma constitucional que assegura a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri do julgamento pelo Tribunal ad quem que anula a decisão do Júri sob a ótica de que ela se deu de modo contrário à prova dos autos. Sistema de repercussão relativa às decisões tomadas pelo Tribunal do Júri é perfeitamente compatível com a norma constitucional que assegura a soberania dos vereditos. Juízo de casacão da decisão do Tribunal do Júri de competência da ordem de segundo grau, represente importante medida que visa impedir o arbítrio. O que vale dizer a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária, à prova dos autos, colidindo com o acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima. “HC 88.707, Rel. Min. Elen Grace”.
Mesmo com o advento da Carta Régia Brasileira de 1988, o STF em reiteradas decisões tem considerado subsistente a norma do art. 593, inciso III, do CPP, de modo a dar guarida à apelação contra o julgamento perante o Tribunal do Júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.
A partir dos relatos doutrinários e jurisprudenciais, e nesta fase da seção plenária do Tribunal do Júri, se faz elementar discorrer a tempo e a hora do Direito que possui o acusado de permanecer calado, sem que este silêncio possa ensejar qualquer juízo de valor que decote esta garantia alcançada. Seguindo essas pegadas, tem-se que o silêncio do acusado advém do princípio constitucional da Ampla Defesa com os recursos a ela inerente.
Muito embora doutrina pátria seja praticamente unânime em afirmar o caráter absoluto do Direito ao silêncio, uma vez utilizado pelo indiciado/réu, nenhum prejuízo poderá causar à sua defesa.
Tanto é real e aqui merece recuar um pouco para mais uma vez sintetizar na pronúncia, advém o ponto fundamental, a pedra de toque, de que o julgador não poderá sequer mencionar que o acusado optara pelo silêncio, no muito, haverá de justificar não ter havido interrogatório de mérito. Ao contrário disso, se houver conclusões, deduções e ilações, de qualquer outro tipo de silêncio acerca do acusado, haverá total afronta à própria Constituição Federal. É inarredável, portanto, não se reafirmar aqui à força contida no inciso LXIII do art. 5º, como forma de patentear a amplíssima defesa na sua plenitude.
Quando o indiciado/acusado calar-se, este fato deverá ser ignorado pelo julgador, que a ele julgador, a rigor, na fundamentação, nem deve fazer referência porquanto a ele julgador esse silêncio não deva ser encarado jamais como referência valorativa em desfavor do acusado. Portanto não interessa em nada para a formação de sua convicção; do contrário, não seria Direito mais um autêntico “ônus do silêncio”.
É necessário, por conta disso, seguir além e muito além desses cuidados, no que se refere ao silêncio do acusado.
4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
A presente pesquisa teve como população os integrantes da lista anual de jurados da Comarca de Paripiranga/BA, sendo a amostra composta por 20 (vinte) integrantes da referida população, escolhidos aleatoriamente, cujos dados sociais seguem na tabela a seguir:
Sexo
Masculino
Feminino
10
10
50%
50%
Idade
< 20
21-30
31-40
41-50
> 50
0
4
5
9
2
-
20%
25%
45%
10%
Escolaridade
Analfabeto
Lê e escreve
Ens. Fundamental
Ens. Médio
Ens. Superior
0
1
3
7
9
-
5%
15%
35%
45%
TABELA 1: Integrantes da lista anual de jurados da Comarca de Paripiranga/BA.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.
Observou-se uma igualdade entre os sexos dos entrevistados, sendo a amostra composta por 50% de homens e 50% de mulheres. Percebeu-se, também, que a maioria dos entrevistados (45%) é de pessoas que figuram na faixa etária entre 41 e 50 anos. Também ficou constatado que 45% dos entrevistados cursaram o nível superior.
Na Tabela 2, constam questionamentos específicos acerca da atuação do entrevistado enquanto jurado. Fora perguntado se o entrevistado tinha conhecimento de que fazia parte da lista de jurados da Comarca de Paripiranga, sendo que 90% afirmaram conhecer essa condição. Sendo que esses mesmos 90% também afirmaram, quando questionados, que já foram notificados para comparecer às Sessões Plenárias do Tribunal do Júri.
O entrevistado tem conhecimento que faz parte da lista de jurados da Comarca de Paripiranga?
Sim
Não
18
02
90%
10%
Já foi notificado alguma vez para comparecer à Sessão Plenária do Tribunal do Júri?
Sim
Não
18
02
90%
10%
Já teve o nome incluso entre os 25 (vinte e cinco) sorteados para a escolha em Plenário?
Sim
Não
16
04
80%
20%
Já figurou entre os 07 (sete) jurados escolhidos em sorteio para compor o Conselho de Sentença?
Sim
Não
15
05
75%
25%
Ao ser sorteado para a escolha em Plenário, já foi rejeitado pela acusação ou defesa para compor o Conselho de Sentença?
Sim
Não
12
08
60%
40%
TABELA 2: Questionamentos específicos acerca da atuação do entrevistado enquanto jurado.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.
Constatou-se que 80% dos entrevistados já tiveram o nome incluso entre os 25 (vinte e cinco) sorteados para a escolha em Plenário, e 75% da amostra também afirmaram, quando questionados, que já foram escolhidos em sorteio para comporem o Conselho de Sentença.
Também se constatou que 60% da amostra já foram rejeitados pela acusação ou defesa, quando escolhidos para compor o referido Conselho de Sentença. O que se pode deduzir, com base nas respostas obtidas, que eles já foram escolhidos mais de uma vez para figurarem entre os sete jurados do Conselho Sentencial.
GRÁFICO 1: Julgamento de acordo com as próprias convicções.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.
Conforme o gráfico acima, há uma percepção nítida de que o membro do conselho de sentença, ao julgar, o faz de acordo com suas convicções.
Diante dessa análise, tem-se em sede de julgamento, debruçar este referido membro num plano perceptível de uma consciência elevadíssima, a ponto de desatrelar-se de outras fontes, de normal frequência que podem sofrer variabilidade de acordo com o cenário que se está a presenciar.
GRÁFICO 2: Convencimento pelo que alega a acusação ou defesa em plenário.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.
Outra hipótese aparece com uma perspectiva saltitante à ideia pré-concebida de que acusação e defesa influenciam no resultado do julgamento. De modo surpreendente, a larga maioria não se deixa convencer pelos argumentos apresentados em Plenário. Por óbvio, cabe assentir não ser uma situação simplória. Porém, muito além do que se havia imaginado.
Há de centrar-se no ideário de convencimento de que este dito membro, a rigor, julga o que se percebe, de acordo com os autos que instruem o Processo, o que se abdica a priori da Doutrina majorante, nas reiteradas afirmações com base nos resultados levantados nas várias pesquisas bibliográficas ao apontar de forma que se repita majorada de que este membro do conselho de sentença por formar um conselho soberano, por conta do inciso XXXVIII, do art. 5º, da CRFB, garantidor da soberania do seu veredito, não é bem assim, resta, por conta disso, demonstrado haver ao longo desse curto lapso temporal uma evolução na forma de pensar e na forma de decidir coadunante, todavia, com o contexto processual e, sobretudo, a razoabilidade ou não do acusado. Por essa percepção virtualizada, há por transparência e de modo aviltante de que o Processo passa a receber uma nova roupagem revestida de flâmulas inspiradoras das garantias que possui o sujeito. Isso demonstra, obviamente, não ser comungantes.
Com o fosforescer de maior dimensão e amplitude das partículas essenciais que conduzem o Processo, possui a República Punitiva o dever de provar o nitidez de que o acusado realmente é culpado da imputação que lhe é atribuída.
Contrário disso, se a República efetivamente não conseguiu no curso do Processo fosforescer à ideia de que o acusado realmente cometera o ilícito penal, não vai lograr êxito na empreitada final que é senão este magno colégio sentencial, uma vez que já não é mais aquele indivíduo ofuscado pela presença implacável da República Penal. Querendo ou não, aceitando ou não. Porém, açoitado pelos ventos inspiradores da infinitude das garantias inerentes à Pessoa Humana como porto de segurança inabalável na dignidade desse indivíduo. Na busca destes preceitos, há, portanto, um reluzir apontando um caminho aproximador de um Direito Material e Processual Penal, condutor de um Direito equilibrado e minimalista. A partir disso, se vai conferir uma eficácia plena das garantias que possui o sujeito, agora de forma inconteste assentida por grande maioria dos que compõem os Conselhos Sentenciais.
Há doravante um novo pensar, é necessário aguçar um olhar muito mais avaliador da preciosidade do íntimo do humano para com seu semelhante. Nessa ótica, reside a esperança que vai fundir-se aos ideários que um dia traçara o humanitário Cesare Beccaria. Nesse ideário, tinha o genial filósofo, o julgador não podia ir além ou estar além do que a Lei obviamente aponta, a ponto de suprimir um ordenamento principiológico derivador das garantias inerentes ao acusado, por ser ele dito indivíduo um sujeito de garantias amparadas pela Carta Magna do seu Estado Constitucional. A par disso, somente com uma síntese exemplificativa, de que se a lesão é incerta não é hediondo atormentar o inocente? A rigor, e muito a rigor, perante as Leis, é inocente aquele cujo delito não está provado.
Nesse passo e muito além, confirma-se tantas vezes a forma mórbida como a República Penal buscava silhuetas e nuanças corcovadas, como forma ilusória de atrair o julgador leigo à suas convicções. Com isso, está a se dizer, por ser esse Estado Penal, esse gigante fictício de cuja força emana as ideias pré-concebidas nos tempos medievos, sobretudo, na concepção ideológica factual de Thomas Hobbes em “O Leviatã”.
Nesse curso, e dele não é dado arredar, ao contrário seguir sempre rumo ao ideário de justiça, uma vez que por força desse arcabouço principiológico jurídico constitucional repousa toda confiança na expectativa de um Processo justo impregnado de respeito ao sujeito que figura no polo passivo, não podendo ser visto com um bárbaro, como uma coisa ou mesmo um ser irracional. Porém, antes de tudo este sujeito em que o Estado prometeu garantir toda uma linha centrada nos princípios do que há de maior e que por ele fora anunciado que é senão a sua Constituição.
São incontáveis os princípios que tentam conter a fúria legislativa, tendente açoitar a República Penal, em substituição à República Social. Neste contexto, incide salientar que o Ordenamento Constitucional brasileiro se fez revestir dessa linha principiológica e inspiradora dessas garantias inerentes ao indivíduo, bem como aos aplicadores da Lei. Entretanto, há de se observar que as formalidades desses princípios não podem abdicar em nenhum contexto processual. Todavia, de mero propósito informalmente, esses princípios são pisoteados. Razoável se faz em insistir, sobretudo, aos operadores de Direito, ou melhor, aos que lhe deram diretamente com o Processo técnico, seja o Estado Juiz, seja o Estado Acusatione, ou o patrocínio da defesa técnica.
Por uma linha ética, esse trinômio deve se fundir na perspectiva de que nenhuma dessas partículas de garantias, se percam. O Estado só será efetivamente justo, se com justiça e, neste particular, como parte de ele traçar um caminho encouraçado na ética e na moral, não permitindo por hipótese alguma que uma só dessas partículas se percam. Sob pena do descrédito da situação estatal quando da persecução penal.
Neste oriente, como porto derradeiro, deve estar o Conselho Sentencial, sempre vigilante nos holofotes da justiça, sendo eles próprios defensores da linha principiológica do Estado Constitucional que prometeu fincar seus ideais de justiça. É esse conceito sentencial repita-se o último portal de avaliar e com segurança julgar o seu semelhante sem que este julgamento possa assaltar, subtrair ou usurpar qualquer das garantias ensejadas no texto constitucional no que diz respeito ao indivíduo que dito Estado prometeu proteção.
A tutela estatalista não está adstrita a um polo e ele próprio quando nesta condição de Estado Acusador. Mas sim, prometeu inclusive e deve cumprir num Estado Pleno e Democrático de Direito também atuar no polo passivo. Polo esse que figura àqueles que de alguma sorte cometeram ou presumidos foram o ilícito penal, de tal envergadura que associa a esta última fronteira da extrema ratio da ultimíssima ratio que é senão o Conselho Sentencial que haverá sim do seu veredito e só desse veredito fazer açoitar o ideário de justiça. Condenando e tão somente com a máxima certeza de que o indivíduo acusado naquele Processo efetivamente é o autor do delito objeto do Processo. Ao menor respingo de dúvida a mais imperceptível silhueta, greta ou fresta de dúvida, há de ser considerado na integralidade o princípio emanado no centenário brocado latino in dubio pro réu. Sempre, mas, sempre na dúvida, absolva-se o réu. Até porque esta máxima fora fulgurante ainda no Processo que se pretende ser justo.
Partindo da premissa de que a República Penal tivera, ou melhor, obrigara-se a provar nos mais diversos meios de prova em Direito admitido, sobretudo, no Processo Penal, dentre os demais, é aquele que detém a mais árdua e fina competência, portanto, há de julgar o Estado libertário ou não do indivíduo. Não poderá jamais fazê-lo por meras conjecturas. E sim na convicção clara de que aquele sujeito efetivamente seja o sujeito que o Processo condutor o deixa ver nas entrelinhas ter sido o autor do delito penal. Assim, e só assim, a República Penal estaria pactuando com a justiça.
GRÁFICO 3: Conhecimento expresso de ditas garantias, ainda assim , é fiel ao tradicional conceito de “quem cala consente”.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.
Forte na ideia principiológica e centenária do nemo tenetur se detegere, na guarida de não ser forçado a se descobrir ou a se revelar. O sujeito tem o Direito de permanecer calado em qualquer fase da persecução penal, e, sobretudo, ter esse Direito respeitado e até visto como um leve teor de não se autoincriminar.
Neste norte, os membros do Conselho Sentencial, quando da ocasião e do momento do julgamento do indivíduo, revela o gráfico anterior, após ter um conhecimento prévio do princípio da não autoincriminação. Exatamente aquele insculpido no inciso LXIII do art. 5º, da CRFB, e também do art. 186 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo único, especialmente, resta escancarada essa garantia do Direito que possui o acusado de permanecer em silêncio. E mais, Direito esse que não pode ser suprimido sob pena de ensejar a nulidade absoluta do Processo.
Possui o Conselho de Sentença uma imparcialidade e, assim, deve ser capaz de transbordar muito além do que a norma jurídica posta, porquanto de sua decisão, ainda que o Estado Acusação expeça a apelação, se for o caso, e em uma outra decisão com um outro colegiado essa decisão, se contrária à primeira, não poderá a depender do caso concreto a pena ser superior ao primeiro caso ou ao primeiro julgamento. A grande maioria responde e afirma, categoricamente, não se basear num velho dito popular de que: “quem cala consente”. A linha impulsionadora dos princípios regentes que amparam a pessoa impõe ao Estado Penal o dever de identificar de forma muito transparente os elementos que definem a conduta delituosa. Qualquer outra conjectura que interfira essa exigência, além de descumprir a função de garantia que é inerente ao tipo penal, de tal ordem, contraria, sobremaneira, o discurso normativo incompatível com a essência dos princípios.
Daí, o dever de avaliar a real observância dos elementos materiais do Estado de Direito.
Por essa vertente, faz nascer um elementar e necessário dever de fundamentar as decisões de modo a não permitir jamais ainda que por mais longínqua seja a passagem que possa suprimir uma garantia, faz com que esse Estado Penal caia em descrédito.
Nesse ponto, sob pena da própria nulidade do ato, segundo posicionamento do STF, de que:
As decisões judiciais quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de Direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal (MARMELSTEIN; 2009, pp. 167-169).
Neste plano, elege-se como premissa máxima a definição constitucional das hipóteses de prerrogativa de foro ratione muneris. A soberania dos vereditos resta imune de vícios, caso não conste o número de votos no termo de julgamento no sentido afirmativo ou negativo, não apenas por força de novatio legis, mas, também, porque a novel metodologia preserva o sigilo e a soberania da deliberação popular.
Neste particular o art. 487 do CPP foi revogado pela Lei 11.689/2008 aprimorando assim o sistema de votação do Júri, já que não se faz mais necessário constar quantos votos foram dados na forma afirmativa ou negativa, espreitando-se, portanto, o sigilo das votações e, concecutariamente, a soberania dos vereditos (HC 104.308, Rel. Min. Luis Fux, julgamento em 31/05/2011, primeira turma, DJE de 29-06-2011).
Neste ponto, há uma preocupação extremada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de reafirmar a soberania dos vereditos. Todavia, dita soberania do Tribunal do Júri não se concebe absoluta, submetendo-se ao controle do juízo ad quem, conforme disciplina o art. 593, inciso III, “d”, do CPP. É de tamanha importância entender que esta soberania não representa um poder mandamental entre vida e liberdade, feito a ferro e fogo, para a sua compreensão, basta que demonstre, de forma peremptória, que conclua manifestamente contrária à prova produzida durante a instrução criminal configura erro em procedendo, de modo a ensejar a realização do novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Impera no mundo jurídico, quer doutrinário, quer jurisprudencial.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta, submetendo‑se ao controle do juízo ad quem, tal como disciplina o art. 593, III, d, do CPP. Conclusão manifestamente contrária à prova produzida durante a instrução criminal configura error in procedendo, a ensejar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Não há afronta à norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri no julgamento pelo tribunal ad quem que anula a decisão do Júri sob o fundamento de que ela se deu de modo contrário à prova dos autos. Sistema recursal relativo às decisões tomadas pelo Tribunal do Júri é perfeitamente compatível com a norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos. Juízo de cassação da decisão do Tribunal do Júri, de competência do órgão de segundo grau do Poder Judiciário (da Justiça Federal ou das Justiças estaduais), representa importante medida que visa impedir o arbítrio. A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, colidindo com o acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima.” (HC 88.707, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 9‑9‑2008, Segunda Turma, DJE de 17‑10‑2008.) No mesmo sentido: AI 728.023‑AgR‑segundo, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 8‑2‑2011, Segunda Turma, DJE de 28‑2‑2011; HC 97.905, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 1º‑6‑2010, Primeira Turma, DJE de 18‑6‑2010; AI 781.923‑AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 6‑4‑2010, Primeira Turma, DJE de 30‑4‑2010; HC 84.097, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 2‑2‑2010, Segunda Turma, DJE de 19‑2‑2010; HC 94.052, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 14‑4‑2009, Segunda Turma, DJE de 14‑8‑2009; HC 94.567, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 28‑10‑2008, Primeira Turma, DJE de 24‑4‑2009; HC 81.423, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 18‑12‑2001, Segunda Turma, DJE de 19‑4‑2011; HC 68.658, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 6‑8‑1991, Primeira Turma, DJ de 26‑6‑1992. Vide: HC 84.486‑AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 1º‑6‑2010, Segunda Turma, DJE de 6‑8‑2010.
Nesse circuito, há de se entender e estender, se num desses acasos restar por um viés dubio de que o acusado fora prejudicado por ter optado pelo silêncio. Desse silêncio, resultar numa possível condenação. Mesmo com respeito à soberania dos vereditos, por não ser absoluto, por não ser conceito fechado, cabe o especular de uma possível anulação desta sessão plenária, se o veredito condenar tão e somente com base no Direito que teve o acusado de permanecer em silêncio.
Com isso, está a se dizer o cuidado de observar, se, nos autos que instruíram tal Processo e mais, quando restar o pendor de que está em demasia escancarada pós-colheita de todas as provas, a dúvida que a rigor é transportada para esta segunda fase, e, insista-se, a perdurar uma dúvida muito acima de uma realidade plausível instruída, e, ainda assim, o conselho abdicar e essa ser sua força, e, nisso, repousa a sua soberania julgar e condenar, parece razoável que se apele para um novo julgamento, portanto resta consubstanciada a máxima imperante do in dubio pro réu, não fora efetivamente acatada pelo colegiado. Nesse particular, e muito particular, deve haver uma colheita perspicaz e momentânea de modo a conjurar tal veredito, uma vez que as provas que instruíram dito Processo não foram capazes de escancarar ter sido ele ou não o autor do delito.
A inquietação faz reluzir chamas de modo a aquecer e sedimentar a perseguição agora não do acusado, mas das garantias que lhes sobrepõe, sobretudo, a garantia constitucional de permanecer em silêncio, sem que dito silêncio possa lhes causar qualquer prejuízo. Sedimentado em tais convicções infere a incidência tantas vezes repetidas para, ao final, catalogar se um dado julgamento obteve um veredito sentencial condenatório apegado à tese de que “quem cala consente”. É necessário, especialmente, um revestir de responsabilidades, já que um dever de punir com ética perpassa, principalmente, numa escorreita fiscalização e vigília adormecida, de modo a não perder de vista jamais ainda que minguada possibilidade de ranhuras à citada garantia. Se dela insista, restar uma desconfiança ainda que ínfima de que o acusado fora condenado por ter exercido o seu Direito Constitucional de silenciar.
Nesse diapasão, é necessário insistir e seguir sem estancar ainda que pareça extenuar as forças dos vigilantes das garantias fundamentais inerentes à Pessoa Humana, e, neste particular, ao acusado, pelo fato de estar numa situação com a verossimilhança atinente num comporte do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor se agiganta tanto quanto seja o tamanho e a medida desse fornecedor. Aqui e agora, nesse comparativo em razão da sua vulnerabilidade, medos e receios no polo frágil da relação, ou seja, o fato de lhes estar sendo imputado uma ação delituosa, capaz de lhe tolher a liberdade e, a depender das circunstâncias, ter sua vida praticamente ceifada, uma vez que a utopia da ressocialização e reinserção na sociedade é com efeito repita-se um engodo que não há de ser negado jamais, já que o sistema prisional brasileiro é um sistema completamente falido, deplorável e miserável. Pensar que por um convencimento precipitado extraído do silêncio, silêncio este que a tutela estatalista escancarou como uma prerrogativa de garantia do indivíduo.
Ver essa garantia diluída, permitir um decote dela é permitir que o acusado, por ter optado em silenciar, possa ser julgado e condenado por essa atitude. É com este receio, entenda-se muito além dele que os operadores do Direito, nestas circunstâncias, turvadas essas evidências, não devam beber numa fonte germinada de águas turvas, num açoite da incerteza, condenar alguém por ter exercido o Direito de silenciar, o Direito de permanecer calado. Mesmo que esse Direito queira esconder de algum modo uma nódoa de culpa. Culpa essa que está no interior do indivíduo no fundo da sua mais íntima consciência, não se fazendo revelar jamais. Condenar alguém nessas condições, sem outras provas incriminadoras capazes de desvendar o ilícito penal, representa um retrocesso social e, neste caso, não foi o que se revelou nas pesquisas demonstradas no gráfico anterior.
Nessa convicção resta agora uma esperança e sempre de que nessa linha evolutiva da espécie humana reste esse dom de justiça, operar a linha do Direito Penal e Processual Penal, sem analisar as normas principiológicas imanentes ao indivíduo, é atirar-se no abissal de loucura, muito além das valorações medíocres que tantas vezes se faz para dar uma resposta rápida à sociedade.
A rigor, mas, muito a rigor, cabe rememorar o episódio dos irmãos Naves ocorrido no Estado das Minas Gerais. Os irmãos que foram condenados e atirados à prisão sob a acusação de terem cometido latrocínio. Tiveram suas vidas tolhidas, suas liberdades castradas, tendo, inclusive, um deles não suportando os horrores da prisão, lá perecido. Para, de repente, restar descoberto que a presumível vítima daquele imaginário latrocínio aparecera um dia nos arrabaldes daquela localidade completamente vivo. É com esse temor que se vai insistir tanto em não permitir o diluir, o suprimir e o decotar das garantias que regem o Processo, não menos importantes, aliás, dê-se a elas um relevo maior nas circunstâncias em que se encontra o indivíduo a quem está sendo imputado um ilícito penal.
É necessário um mirar, um despertar infindos, uma vez que o dever de punir não esteja arredado da ética e dos preceitos fundamentais construtores de uma sociedade livre. Só se permitindo o retirar dessas liberdades, se a tais indivíduos restar, definitivamente, provado terem sido autores dos crimes contra a vida. No mais, retirar a liberdade do indivíduo por convicções precipitadas e juízos valorativos impulsionados tantas vezes por uma emoção momentânea, sem ao certo estar convencido da prática delitiva daquele agente, parece e é um exagero de uma irresponsabilidade indecifrável.
Perseguir o ideal de justiça é muito mais que uma obrigação é um dever. Dever esse que encarna o íntimo, o muito íntimo, de cada um dos membros do Conselho Sentencial. De suas decisões, depende a liberdade de um seu semelhante.
Não há a pretensão e longe disso de externar um abolicionismo penal, antes, porém, concordar com o dever de punir que possui a República. Punir sempre quando restar provado ter o indivíduo cometido uma lesão no seio social. Lesão essa tão irreparável que, por um lapso temporal, mereça ser retirado da sociedade. O Estado tem sim o dever de proteger os cidadãos, de proteger para que eles possam exercer o seu Direito de Vida e Liberdade. Não permitindo, jamais, que outro indivíduo possa ameaçar esse binômio natural inerente à pessoa, a sua vida e sua liberdade. O homem tem um dever consigo mesmo, um dever que lhe é inato. Ainda que, porventura, e não é o caso, Deus não existisse, ainda assim, o Direito à Vida e Liberdade existiriam. Permitir que alguém ameace esse Direito é tão covarde e injusto como o próprio indivíduo que, desta forma, se comporte. Todavia, se faz necessária esta vigília constante de modo a não permitir o diluir das garantias inerentes ao indivíduo quando este figura como elemento da persecução penal esboçada pelo Estado-Juiz ou República Penal.
O homem tem consigo próprio um pacto de Vida e Liberdade. Nas lições do mestre José Afonso da Silva, a vida está para o seio social, assim como a estrela de quinta grandeza está para esfera terráquea. Em razão disso, deve exercer um vigiar de si mesmo, um cuidar de si mesmo de modo a não permitir que ninguém possa retirar-lhe esse Direito imanente e intrínseco a cada indivíduo em si. O Direito de permanecer vivo e não permitir que lhe tirem essa vida e que ela só pereça pelo fator natural, a própria morte. Nesta mesma linha e com este mesmo zelo, também deve agir com total similitude para garantir também que esse Direito da vida derivado que é senão o Direito à Liberdade.
É nesse repousar, é nessa linha lógica de Vida e de Liberdade que o indivíduo deva insistir, defender e não permitir que nenhuma de suas garantias se perca ou que essas ditas garantias sejam retiradas, seja pelo fulminar apressado da República Penal por via de Processos desajustados, deformados e defeituosos, como se vê tantas vezes para dar uma resposta célere à sociedade. É necessário sempre conservar o entendimento de que efetivamente o indivíduo possui Direitos que lhes são inatos e que só são possíveis de serem conservados, se também conservadas forem suas garantias. E neste particular e muito particular, reiteradas e infindas vezes a cada indivíduo em si, ser ele próprio um guardião de suas próprias garantias, não permitindo jamais que alguém, não importa quem, nem mesmo o Estado possa esmagá-las. Sejam os princípios consagrados pelas garantias da Carta Política de 1988 de forma tão rígida, sobretudo, no que concerne à Vida e Liberdade. Assim, o legislador constituinte o quis cada indivíduo, as instituições e a própria sociedade reconheça um Estado erguido com essas garantias que o organizaram, não seja desrespeitada a carta, de cujo conteúdo represente o irradiar para cada indivíduo, assim como a Bíblia representa a Carta Mandamental fundante e eterna para os povos cristãos.
Nesse curso, há de se pensar a proteção inarredável que possui o sujeito de ter um Processo justo e um julgamento igualmente justo.
São inúmeros os focos que se espalham num Processo, e curto espaço para um adormecimento da decadência moral. Nesta arena, há um povoar de incertezas, em face da situação imposta ao acusado de modo geral. Há um digladiar incessante entre o Estado Penal e o agente delituoso. Esse digladiar resulta no exaustivo desejo, quer do Estado Penal para ver prosperar e imperar sua força atômica, quer do indivíduo na sua linha defensiva. Na senda do crime, o agente não se autoarremessa para a culpabilidade. Há um leve desejo, às vezes, inconsciente, que provoca sua erosão moral. Isso ocorre se o agente for realmente culpado das imputações que lhes são oferecidas. Do lado contrário, mesmo que o agente seja inocentado, haverá como consequência uma decadência moral e social. Situações que hão de advir do fato de ter saído, embora vitorioso, desse embate, contudo, os respingos da persecução penal seguirão, ainda, ladeados na sua vida material e por extensão no seu mais íntimo e precioso bem, sua intocabilidade, sua dignidade que fora decerto ainda que de forma momentânea, maculada pelas investiduras do Estado Penal.
Ainda que o acusado vislumbre na infinitude da abóboda celestial, um cintilar esverdeado de esperanças, ainda assim, estará neste lapso temporal de durabilidade processual, pendente do seu resultado.
Nessa órbita infinita, basicamente, quando não se pode precisar quando e como terminará o Processo. Isso no que consiste à sua durabilidade. Da incerteza da penúltima fronteira em que estacionará o acusado. Nas aflições que hão de bordar sua figura perante aqueles que haverão de julgá-lo. Certamente, aqueles instantes que antecedem o resultado que hão de chegar o Conselho Sentencial. Do seu veredito, se condenatório, restará um caminho de amarguras, de espinhos. Certamente, o retiro social que sofrerá por conta de dita condenação e, sobretudo o ambiente nefasto que o aguarda, o ambiente inóspito que é a prisão, certamente, haverá de dilacerar o seu último exalar de esperanças. Dificilmente, alguém vítima de um injusto penal, haverá de se aquietar, se auto resignar quando destituído de um bem que não se pode valorar jamais que é sua liberdade, trancafiado num dos piores locais que o indivíduo merece ser depositado. Nessa linha racional, restará, obviamente, evidenciado, acaso tenha sido este veredito um erro. Não há mais como voltar. O mal estará consumado. Nada que o valha. Satisfeita estará a República Penal. Enquanto que a desgraça se abaterá na vida daquele indivíduo.
Esse corolário de incertezas, que culminará, certamente, com a miséria daquele que cometerá um ilícito penal, não lhes será em demasia. Contudo, se o indivíduo for inocente e, ainda assim, por um convencimento imotivado o Conselho de Sentença o condenar, nesse caso, não restará a este indivíduo nada que o console, nada que possa restituir sua dignidade.
É neste ponto que o Conselho de Sentença deve centrar suas decisões, evitar de todas as formas um julgamento precipitado sem a certeza de que, efetivamente, aquele indivíduo tenha sido o autor do delito que o trouxera a este colendo Tribunal. É necessária uma imersão tão profunda, a ponto de, no tentar respirar para retornar ao estado natural e racional de decidir, fazer com toda convicção e certeza possível. Neste caso sim, estaria se fazendo justiça. Contrário disso recai o receio de carregar consigo esta linha tênue de incerteza e de cujo resultado somente o atormentará tanto quanto àquele que fora acusado e condenado injustamente. Neste mote, deve colidir todo um Conselho Sentencial para, ao final, de forma transparente dar um veredito justo e sereno.
Nessa vereda, em que desfilaram tantos casos de vereditos equivocados, como a rigor ocorrera, recentemente, com o casal Nardoni. A pergunta a ser é feita é: “Se aquele casal for inocente, principalmente, o pai da vítima, haverá maior pena, pena esta desumana e degradante e por que não dizer imoral e irresponsável? Além da dor de ver sua vida completamente destruída por conta de um Processo fosforescido pelos holofotes midiáticos. Se um dia, assim como ocorrera com os irmãos Naves. Se um dia restar provado que aquele pai não foi o autor daquela morte descomunal, desumana e impiedosa. Cada dia daquele homem será um martírio sem fim.
O julgador não está acima nem de Deus e nem das Leis. Escolhido para compor um Conselho Sentencial, o é em razão e presume-se de seu equilíbrio, de seu senso de justiça e de seu humanismo.
Nesse traço, seguindo as lições de Rejane Kütter, quando destacou o grande filósofo grego Aristóteles, traz uma concepção clássica de como deve ser o homem justo:
Tendo definido a distinção entre a justiça e o ato justo, precisamos investigar então qual a característica de um homem dito justo. Ora, fica evidente que o agir justo é o esperado para o cidadão justo. No entanto, nem todo homem que age justamente é um cidadão justo, e ainda, nem todo aquele que comete um ato injusto é um cidadão injusto. Daí tiramos que a justiça identificada como qualidade no homem não é apenas definida pela totalidade de suas ações. Existe um certo valor moral que acompanha as atitudes do homem justo, e este reside também nas disposições internas para a ação. De fato, se retrocedermos a nossa definição primeira de justiça, veremos que esta já previa este diferencial: a justiça é uma disposição de caráter presente na pessoa (2009, p. 1).
Assim como Regina Pereira, ao abordar as lições kantianas:
Ao afirmar que não existe no homem germe senão para o bem, Kant reconheceu a possibilidade que ele tem de combater o mal dentro de si, de controlar seus impulsos naturais, de dominar a liberdade de seu livre-arbítrio, de respeitar a lei e transformar-se em um sujeito moral. A palavra germe é aqui designada por Kant, em um sentido amplo e serve para expressar que não existe no homem uma vontade, ou seja, uma razão moralmente legisladora, que tenha em vista o mal (2002, p. 3).
Forte nestes princípios e, principalmente, na razoabilidade humana, apega-se como último refúgio no humanismo. Para entender que toda decisão há de partir primeiro do sentimento de humanidade, se de tal ordem o crime não estiver devidamente desvendado e se o Estado não conseguiu ao longo da persecução penal conduzir no Processo provas incriminadoras e irrefutáveis.
Compete, efetivamente, ao Conselho de Sentença julgar de acordo com os autos que instruem os Processos. Se as provas restarem combalidas, insuficientes, serão consideradas imprestáveis também. Não cabendo discuti-las se ilícitas ou delas derivadas. Este não é o conceito que se quer dar. Apenas buscar o enfoque ensejador da dúvida. E, na dúvida, inocenta-se o réu. Por isso é importante este centenário brocado latino do in dubio pro réu. Não é apenas uma frase de efeito teatral, ou uma linguagem clássica que esteve ladeada à linha principiológica do Direito Material e Processual Penal. Todavia, há de se conceituar este princípio na sua máxima. Máxima essa que ninguém deve ser preso, que não seja tolhida a liberdade do indivíduo por meras conjecturas por precipitações inaceitáveis. Por não se tratar de um equívoco qualquer. Por não se tratar de dúvidas, se tal indivíduo está ou não a se trajar com essa ou com aquela cor. Não se trata dos hábitos desse dito indivíduo. Não se trata de um equívoco meramente material, mas sim de um equívoco que pode retirar a liberdade do indivíduo, essa liberdade é um porvir, é inata ao ser humano. Essa liberdade, assim como sucessão do bem maior que a vida, repousa sobre o manto protetivo de garantia constitucional ímpar, rara e que deve, portanto, estar na proteção do nicho sagrado que guarnece essa liberdade.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Remonta de tempos homéricos a necessidade de o indivíduo se autodefender das acusações que lhes são impostas. Nada obsta por conta disso, o direito de silenciar. Esse direito remete a uma elasticidade quase que infinda.
Esse direito de silenciar é premissa universal. Na Europa, principalmente, na Itália, há um princípio consagrado denominado “Nemo Tenetur se detegere”, (Ninguém está obrigado a se descobrir). Nos Estados Unidos, vislumbra-se o Caso Miranda Vs. Arizona[3].
No Brasil, esse princípio é consagrado no inciso LXIII, Art. 5º, CRFB/88. Ainda que de forma tardia, tanto é real, que o Código de Processo Penal varou quinze anos para ser reformado. Significa dizer que o art. 186 desse diploma durante todo esse período esteve eivado de inconstitucionalidade.
Demais disso, a incredulidade de estado absurdo de coisas advém do fato de, na Carta Magna brasileira, ser princípio inserto no rosário do artigo 5º, portanto, artigo petrificado, assim como todo seu elenco.
Em sequência a essa vereda, desperta um olhar um tanto inquieto, de modo a extrair um ressentimento. Se o Estado levou quinze anos para se adequar ao seu texto máximo, ou seja, a alteração do art. 186 do CPP, imagine, a título ilustrativo, o que pensar de uma sociedade, de qualquer modo, ignara e alheia a determinados preceitos. Em razão disso, recai um determinado receio àqueles operadores do direito, especialmente, na linha defensiva, o dever de cuidado de atentar-se sempre e constante de que essa garantia de silenciar não seja suprimida em nenhuma das fases do processo penal e, muito especialmente, na segunda fase, o Tribunal do Júri. É, nele, e muito a rigor nele, a que todas as atenções devem se voltar. Não é dado desatentar um só instante, por isso, nessa fase, erguer-se-á um tribunal julgador, que haverá de dar um veredicto. É nesse circuito e para além dele, que deve haver um vigiar, e um vigiar eterno, como eterno é o princípio fundante dessa garantia.
Nessa esteira, resta o compromisso de fazer anunciar de modo amplificado, residir uma garantia eterna de que o acusado pode, por opção, silenciar. De cujo silêncio não incidirá o decote dessa garantia ao olhar do julgador. Com isso, está a se dizer o julgar por mera presunção de formar um pensar ser o acusado culpado, em razão do silêncio, é tão grave a ponto de se propor um novo julgamento. É nesse percurso, que a doutrina majorante entende não ser absoluta a competência do Tribunal do Júri, isso porque dela infere um declinar no sentido de apelar para um novo julgamento em razão de o veredicto deixar transparecer amarrotado, ou seja, contrário ao direito que possui o acusado de silenciar. Nesse ponto, incumbe o dever imposto pelo mister de se fazer justiça impregnada pelas provas que instruíram o processo e não em desconfiança de um direito fundamental consagrado ao indivíduo.
Neste norte, convém decerto um perseguir ininterrupto pelas vias condutoras de um Estado de justiça a ser efetivado no cultivo das garantias do acusado, que, por responder a um processo, não abdicou jamais de seu direito, direito esse inclusive de permanecer calado. O Estado Penal firmou um compromisso, aliás, não aceitável de outro modo, que é senão julgar com ética. Esse julgar com ética, perpassa pelo respeito e o relevo que emana do princípio de dignidade da pessoa humana. Este muito acima de qualquer norma jurídica e qualquer tribunal por muito especial que seja.
Cabe a cada indivíduo em si, perseguir um ideal de justiça, sem se apartar jamais, de seus deveres enquanto cidadão inserido no seio da sociedade. Todavia, o mister impõe exigir do Estado, uma vigília igualmente séria, igual, ou melhor, superior, à do cidadão de modo a perseguir um ideal de justiça. Justiça essa derivada das garantias que o Estado prometeu tutelar. Seria de tal ordem um comportamento repudiável e de uma censura inenarrável, se dito Estado penal, não exercer seu direito de punir com ética. A falta disso, de modo contrário, merece dito Estado uma reprimenda por parte da sociedade.
O punir carece de uma cruzada de cavaleiros templários numa reserva aquartelada pronta a entrar em ação toda vez que o Estado Penal declinar da guarida as garantias que tem o indivíduo de receber desse Estado um julgamento justo. Só desse modo e não de outro, ergue-se um Estado Pleno e Democrático de Direito. A Democracia não pode ser rotulada com meras expectativas dogmáticas e engodos midiáticos. Diferente disso, ela precisa estar alimentada nas vias programáticas de suas ações, sobretudo, carreada no respeito ao Estado Constitucional que sinônimo do Estado pleno e Democrático de Direito, de cujas ações emanam o respeito às garantias fundamentais que possui o cidadão.
Logo, se faz imperante o reluzir de um Conselho sentencial, que, ao menos, saiba ou conhecimento tenha de que o indivíduo, ao ser acusado de um ilícito penal, não abdicou jamais de ser também um sujeito de direitos. É nesse particular que cada cidadão não está apto a julgar o seu semelhante, sem, antes de tudo, conhecer o processo que ele figura como parte, e muito especial, o dia de seu julgamento. Este é, por certo, para ele, o acusado, o “Dia D”. É nesse momento em que um enfadonho processo poderá selar a vida do indivíduo que o Estado trouxe até a sessão do Tribunal do Júri. Desta sessão, espera-se um julgamento de acordo com a convicção de cada membro desse tribunal. Contudo, inaceitável é se dito julgamento não perseguir um ideal de justiça.
Nesse passo, persegue-se, por conta desse trabalho, ver imperar a Justiça de igual modo para todos. Sem discriminação de qualquer natureza, por isso, a chancela do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 aduz que: “Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza”. Nessa dicção, convém a assertiva de que ninguém deve ser julgado a ferro e fogo, não estando em discussão o tamanho da lesão que cometera. Não é dado elevar a hediondez da conduta delitiva, mas, sim, a um julgamento justo.
Nessa perspectiva, admite-se, por consectário, de um Estado Pleno e Democrático de Direito, o dever de punir de acordo com as normas principiológicas norteadoras das garantias fundamentais inerentes à pessoa.
Deveras é imperativo revolver no íntimo de cada cidadão, sobretudo, o cidadão justo, porquanto zeloso, cuidadoso e preocupado com o destino de seu semelhante. Esse dever de cuidado que possui o justo, com justiça, haverá de julgar o seu próximo.
Na quietude do acusado, no seu mais profundo recôndito, descansa, por vezes, uma esperança de ser julgado de forma justa e imparcial. De todo modo, um temor antes de tudo. Seja naquele dia, em que o conselho sentencial haverá de reunir para decidir seu destino. Destino que alterará sua vida para sempre. Com essa preocupação, vai o justo ao Tribunal do Júri. A referência que se faz é basicamente na perspectiva de que o acusado, lá no seu íntimo, é um justo. Contudo, um justo que não conseguiu até aquela data provar sua inocência, ou seja, a República Penal foi hábil. Conseguiu trazer aos autos do processo, provas quase que incriminadoras. Restando para o acusado apenas, nada mais que isso, somente esperanças. Nesse caso, a responsabilidade do Conselho Sentencial desloca-se ao infinito.
Faz parte da existência humana, cometer equívocos. Entretanto, ao se tratar de lidar diretamente com a liberdade de seu semelhante, é importante não se descuidar um só instante. É necessário um debruçar na sua própria consciência. Imagine retirar a liberdade de alguém sem uma certeza cristalina de que o acusado realmente é o autor da lesão que lhe está sendo imputada. Grandes penalistas ao longo da história perseguiram esse receio. A condenação de alguém passa, necessariamente, por um juízo de amplo convencimento. Admite-se um veredicto condenatório, esgotadas todas as possibilidades de provar ser o acusado inocente. Ao menor respingo de dúvida, não devem condenar. Um dos grandes episódios da ficção é ilustrado na película “Doze homens e uma sentença”. A princípio, para o Conselho sentencial, o acusado realmente era culpado perante a maioria do Conselho. Apenas um homem e só ele, se disse em dúvida para aquela condenação. A película retrata de modo inconteste, como o ser humano é precipitado na hora de condenar alguém. Nesse cenário, após inúmeras discussões, novas provas foram acontecendo até que, quase por milagre, ficou provado ser aquele acusado inocente. Somente um, entre os doze membros daquele conselho, despertara um desejo incontido de rediscutir o caso, e justamente ele convence todos os demais de como estiveram equivocados em relação àquele acusado. Trata-se de uma mera ficção cinematográfica, contudo, não se deve apartar de que, na vida real, algo semelhante pode ocorrer.
Nesse oriente, prende-se um certo medo, medo de pensar que o indivíduo pode se equivocar em relação ao sujeito que está sendo acusado do cometimento de um determinado delito. Somente com a convicção mais profunda a que se pode chegar. Somente com a certeza verificada e reverificada, de que aquele acusado é realmente o autor do delito, é que se espera um veredicto de culpa. Contrário a isso, é recomendável uma prudência, uma visão mais acentuada, mais detida. Nunca, jamais julgar por meras conjecturas, por provas cambaleantes. Só se deve condenar alguém com plena convicção e se não restar dúvidas.
O homem é e continuará sendo o senhor de suas ações. Sua mente alcançará o inimaginável, poderá chegar aonde ninguém um dia chegou. O homem, por sua inteligência, alçará voos condoreiros. É, entre as criaturas, a única dotada de razão. É com essa base sólida que edifica sua existência. Porém, insista-se, é necessário um vigiar a si mesmo, um tomar conta de si mesmo, um policiar a si mesmo. Só assim, serão evitados os exageros. Exageros esses a ponto de atentar contra seu semelhante.
Sob os alicerces da Justiça Divina, primeiro ponto de partida inspiradora das decisões dos seres racionais, pecadores logo mortais. É nesse princípio que se quer convidar a uma reflexão profunda de suas ações. Nunca se devem seguir suas emoções, às vezes e na maioria, traiçoeiras. O homem e a razão inapartados dos valores morais derivados dos princípios cristãos. Nesse passo, deva associar-se ao mais profundo pensar.
Sem a certeza de que o acusado realmente é culpado da imputação que lhe é apontada, não deve jamais condenar. E mais, sob a desconfiança do silêncio do acusado, razão maior para não lhe negar esse direito, não se deve, sob a mais remota hipótese, condenar o seu semelhante em razão de silenciar. Esse silêncio, necessariamente, não significa uma confissão.
A natureza revela não raro, pessoas optantes por viver em silêncio, somente expressando o necessário para um convívio em sociedade. Acaso é dado condená-las por essa prática? É óbvio que não. Assim, se faz inolvidável respeitar o direito de cada um. O direito de cada cidadão guardar seu segredo. Ainda que por fortuita observação de que aquele silêncio poderia ser o esconderijo de uma revelação comprometedora no processo. É eleito o Princípio nemo tenetur se detegere. O direito que possui o indivíduo de não se revelar; de não produzir provas contra si mesmo. Ainda quando sua revelação poderá incriminá-lo. É nessa perspectiva e dela muito além, que se deve respeitar o direito que possui o acusado de silenciar. E, desse silêncio, não seja permitido o diluir de uma só gota dessa garantia, um picotar sequer de sua ramificação, um decotar sequer de sua indumentária.
É nesse exalar que repousa a esperança de que as garantias que guarnecem o indivíduo sejam eternas. Ainda que outra Carta possa substituir a que está posta, ainda assim essas garantias subsistirão porque são eternas.
A proposição do presente trabalho debruçou-se na perspectiva de provar que os membros que compõem o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, de acordo com a lista anual da Comarca de Paripiranga/BA, sobre o relevo da indispensabilidade da temática, ao respeito em que todo o acusado, caso opte em permanecer em silêncio, sem que essa opção possa causar-lhe prejuízo.
Inobstante, impõe o mister, à liberdade conferida ao julgador desse Conselho em dar seu veredicto, este soberano por força do inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB/88. Destarte, busca-se alcançar, nesse propósito, o mínimo de consciência de cada um, de modo a dar guarida às garantias inerentes à dignidade da pessoa humana. Nesse diapasão, cumpre salientar o direito de ampla defesa, do qual derivou o rico acervo inserto no Art. 5º da Constituição Federal.
Demais disso, espera-se, com o mesmo, quebrar velhos paradigmas que se apresentavam incólumes. A partir daí, espera-se que essa proposta sirva de instrumento, de modo a alterar o juízo, que, muitas vezes, assola o ser humano, ou seja, o de punir. Antes disso, é assente mirar para além dessas convicções, para, de resto, entender que o maior Tribunal do homem é a sua consciência. A punição só será justa, se conferida ao acusado um amplíssimo direito de defesa, e, por consequência, que esteja o julgador, porque, efetivamente, é, além do juiz togado que preside a sessão do Tribunal do Júri, o dever inequívoco e inafastável de zelar, feito um cavaleiro templário, de modo a não permitir que nenhuma garantia seja suprimida do acusado, para que se atinja, assim, um processo justo e digno de um Estado Democrático e Pleno de Direito.